O meu mestre só me ensinou coisas exigentes, como fazem os verdadeiros mestres. Ao contrário daqueles que me querem cada vez mais pequeno, o meu mestre dedicou-se a apontar-me a grandeza onde e sempre que ela surgia, dizendo-me: “É este o caminho que vale a pena.” E nunca, mas nunca mesmo, me impediu de tropeçar em mim sem que eu lho pedisse, com prova de incapacidade. Por isso haverá tantas coisas que me quis ensinar e que eu não consegui aprender ou de que ainda não estou consciente.
O meu mestre ensinou-me a verticalidade e a horizontalidade tão bem que nunca confundo a primeira com o sentido que lhe dão nem a segunda com a linha do horizonte, porque só lhes reconheço o sentido que tinham para ele: sempre mais fundo, sempre mais alto, sempre à frente; sempre ao lado, um bichinho igual aos outros. E assim vou indo no sonho e no mergulho e na viagem, umas vezes olhando para cima, outras para baixo, outras para longe, e sempre ao lado de outros ninguéns.
O meu mestre ensinou-me a desconfiar do meu desprezo pela ignorância e pela vilania. Dizia: “Por mais certo que seja esse teu desdém, se ele não te doer é porque foi gerado na mesma zona das coisas inferiores que o provocaram”. Porque também elas pertencem ao humano e porque nada do que é humano nos é alheio. É uma das lições de que mais inadvertidamente me esqueço, tanta a baixeza e a ignorância que me agride neste tempo delas tão forrado.
O meu mestre fez-me ver que lutar pelos direitos humanos, sociais e políticos fundamentais é o mais supremo ato de amor e que por isso é tão difícil de pôr em marcha, porque tem de haver muitos a amar todos ao mesmo tempo: segundo o meu mestre, lutar só se conjuga na primeira pessoa do plural. E para eu perceber melhor, levou-me a ver o povo a lutar e o povo adormecido; o povo a criar e o povo a destruir; o povo vitorioso e o povo derrotado – a fraqueza dos segundos não sendo mais do que a desmemória da força dos primeiros e todos eles heterónimos da mesma entidade histórica. Mas, ao mesmo tempo que olhava para as coisas como se as visse desde o fundo dos tempos, não se distraía nessas contemplações, porque nunca desleixava o amor que tem de ser vivido todos os dias com os outros bichinhos que ia agrupando à volta dele.
O meu mestre mostrou-me a diferença entre a palavra ruidosa e a palavra silenciosa, o silêncio palavroso e o silêncio mudo, a palavra vazia e a palavra cheia, o silêncio cheio de tudo e o silêncio cheio de vazio. O meu mestre amava igualmente a palavra e o silêncio, cada um no seu lugar e no seu tempo, sempre de mãos dadas, sempre bem-educados um com o outro, como dois amigos que diante da porta não avançam sem dar a vez um ao outro. Ouvi-lo falar, ouvi-lo cantar e ouvi-lo calado ajudou-me a compreender melhor a diferença entre esses três estados da mesma coisa e o ruído, embora estejam frequentemente submersos no constante barulho de fundo que atapeta as nossas vidas.
O meu mestre apresentou-me a poesia nas suas várias encarnações, ajudando-me a desenhar bem as fronteiras entre ela e o resto – que mais não é, afinal, do que tudo aquilo que (ainda) não sabe que tem a poesia dentro. Com ele fui dando conta de que a poesia do poema é a expressão trabalhada da poesia que atravessa o mundo. Depois, segundo percebi, o artista capta essa poesia que anda por aí e põe-na num poema (que também pode ser uma música, um quadro, um edifício, um filme e outros obras de arte) e a gente vê-a melhor e fica a pensar que ela só vive ali. Mas o meu mestre não me deixava permanecer nesse engano, mostrando-me igualmente a poesia que ia a passar do outro lado da rua ou se ouvia naquela resposta daquela senhora naquele dia ou brilhava naquela cenourinha bebé. Contou-me ele que saber apanhar a poesia do mundo e pô-lo na obra de arte é o ofício mais antigo que existe. E que se ele morrer morrerá com ele a nossa humanidade.
O meu mestre ensinou-me que a morte nunca existiu, verdade que ele tinha ido colher a um dos seus mestres, chamado António Joaquim Lança. Dessa vez, não explicou, não deu exemplos, não apontou para lado nenhum, não me mostrou nada e nada respondeu às minhas perguntas. Só me ia cantando, muito de vez em quando, a lição do mestre dele, que era assim:
Tudo o que for vivente tem
Uma queixa que o percorre
E quando um dia a vida morre
A morte morre também.
Essa já não mata ninguém
Onde nasceu se sumiu
Só p’ra esse corpo serviu
Ali fez as contas do porto
Não vai dum p’ra outro corpo
Porque a morte nunca existiu
A morte não sai p’rà rua
Nem anda de terra em terra
E cando um dia a vida degenera
A morte, cada um tem na sua
Essa já não continua
Onde nasceu foi acabada
Depois foi ser enterrada
Com o corpo debaixo de chão
Mesmo nessa ocasião
Foi pela vida gerada
Onde é que essa morte está?
Onde tem no acampamento?
Pra matar milhares ao mesmo tempo
Uns no estrangeiro, outros cá
Essa morte não haverá
P’ra que faça tanto corte
Inda mesmo que seja forte
Que haja isso, eu não acredito
Estragou-se o sangue, perdeu-se o esp’rito
Da vida passou à morte
Como é que podia ser
Uma morte só ter tanta sustância
O mundo tão grande distância
P’ra tanto vivente morrer?
Cada um tem de a sua ter
E pela vida é que é fundada
Que ela que anda de estrada em estrada
Ninguém tenha esse abismo
Quando se pára o màquenismo
É que fica a morte formada
Pensei eu que a conseguia perceber da mesma maneira que julgo ter percebido as outras. Mas um dia o meu mestre morreu. Imerso na dor que «não tem deus nem senhor», só então dei conta da grandeza e da dificuldade dessa lição que a morte dele tinha escancarado diante de mim.
Mestre, meu querido mestre, quão horrível e quão belo é aprender desta maneira arrancada à vida!
Autor: António Branco é sobrinho de José Mário Branco e professor na Universidade do Algarve
Nota: Texto publicado primeiramente no Diário de Notícias














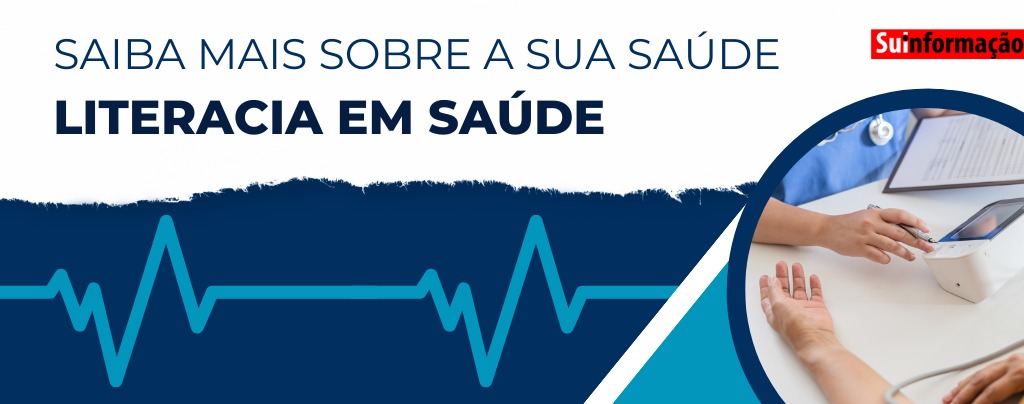




Comentários