 O mar enrola na areia… ninguém sabe o que ele diz.
O mar enrola na areia… ninguém sabe o que ele diz.
Ou melhor, até sabe.
Ainda que não compreendamos ao pormenor a linguagem do mar, sabemos interpretar claramente o tom da conversa que connosco vai mantendo.
É por isso que em dias como os de anteontem e ontem, não temos grandes dúvidas de que o tom é feroz, agressivo, violento até. Face a tal, o vocabulário exacto que é empregue torna-se secundário ou mesmo irrelevante.
Até porque o mar não nos conhece ou está realmente a falar connosco. Em boa verdade, o mar nem nos vê, insignificantes que somos – por muito que isso nos custe a aceitar.
Em dias como o de ontem, é com a terra que o mar conversa, num diálogo que dura desde há alguns milhões de anos, ainda nós éramos sopa. Coisa pouca.
Acontece que por acaso, obrigação, inconsciência ou imprudência, nós estamos no meio da conversa.
É certo que estamos nesta metediça circunstância desde há muito. Há tanto tempo que dizemos conhecer o mar. Dizemos mesmo que é nosso. Historicamente até, constitui o nosso desígnio.
Mas o mar não é nosso. Na verdade, escapa-nos por completo.
Ao arrogar posse sobre o que não tem dono, ousamos pretender transformar em objecto o que é essência, tentamos colocar uma trela ilusória numa das forças matriciais. E com olhos baços perspectivamos de que forma nos poder ser útil, numa lógica hedonista e imediatista, cegos para a complexidade de um sistema vivo dinâmico que moldou, molda e moldará o planeta.
Lembro sempre Hemingway, que, secundando a ideia de que há três tipos de homens (os vivos, os mortos e os que andam no mar) chama a atenção, n’”O Velho e o Mar”, para o facto de que “se há furacão, a gente, andando no mar, vê os sinais dele no céu, muitos dias antes. Em terra ninguém vê, porque não sabe que distinguir”.
O mar escapa-nos. Não o compreendemos, não o respeitamos, não descortinamos os seus mistérios ou distinguimos os avisos.
Escapa-nos então, e escapar-se-á cada vez mais, de forma cada vez mais violenta, na proporção directa da ignorância que emprestamos a questões como as alterações climáticas e o impacto que tal tem na evolução dos fenómenos climatéricos e na ocorrência de episódios de risco.
É por isso que ocupamos massiva e displicentemente o litoral, eternos idiotas, sempre preparados para o melhor, esperando o óptimo, quando na verdade nos devíamos preparar para o pior, esperando o mau, sem perceber que onde sempre estivemos nem sempre é onde podemos estar ou podemos ficar.
Depois erguemos muros, lançamos molhes, escondemo-nos atrás de paredões, amontoamos pedras e atiramos toneladas de areia ao mar, interpomos providências cautelares, contamos histórias da carochinha, gritamos alertas. Sempre na vã esperança de que o mar se assuste com a nossa voz grossa e o poderio das nossas betoneiras.
Mas o mar ruge mais alto, e sistematicamente coloca-nos no nosso lugar, desbaratando os nossos esforços como pó sendo sacudido de um casaco. Depois carpimos os mortos, lamentamos a destruição, e atarefamo-nos na repetição exacta e metódica dos mesmos erros.
Faz parte do nosso folclore invernal, tal como os fogos fazem do estival.
Sem que adiante discutir causas, ou teorizar e propor alternativas. Porque, mais do que a cultura do mar, temos em nós a cultura do desordenamento do território, que nos leva à ocupação desregrada da faixa costeira (e não só), que nos embota a percepção do risco, que nos faz transpor limites invisíveis mas bem presentes – aliás conhecidos, embora voluntariamente esquecidos – com custos tremendos.
No fundo, é uma cultura de desordenamento assente em fé, na ideia peregrina de que tudo vai correr bem apenas porque sim, porque gostamos, porque assim o queremos, porque o desejamos muito. Mas, por vezes, os deuses enlouquecem, e a normal poesia do dócil mar que se espraia a nossos pés, espelhando o céu, transforma-se em prosa extremamente contundente.
E depois, se em dias como o de ontem a coisa dá para o torto, somos todos chamados a pagar pelas más decisões de alguns, pelos caprichos de outros e pela indiferença da maioria, sendo que nunca ninguém, ilhéus, continentais, ricos, pobres, iletrados, doutorados, assume responsabilidade individual pelos seus actos.
A culpa é sempre do mar, que por mero acaso e grande, grande azar, está lá desde sempre…
Sem saber o desfecho dos próximos, no dia de ontem, ao contrário de outros dias como aquele, até tivemos sorte.
Mas temos que ter cuidado. Ou melhor, temos que ter consciência. Consciência de que na roleta russa, apesar de haver apenas uma bala, há sempre alguém que leva com ela.
E com base nessa consciência, decidir se queremos continuar a brincar com coisas sérias.
 Autor: Gonçalo Gomes é arquiteto paisagista, presidente da Secção Regional do Algarve da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP)
Autor: Gonçalo Gomes é arquiteto paisagista, presidente da Secção Regional do Algarve da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP)
(e escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico)













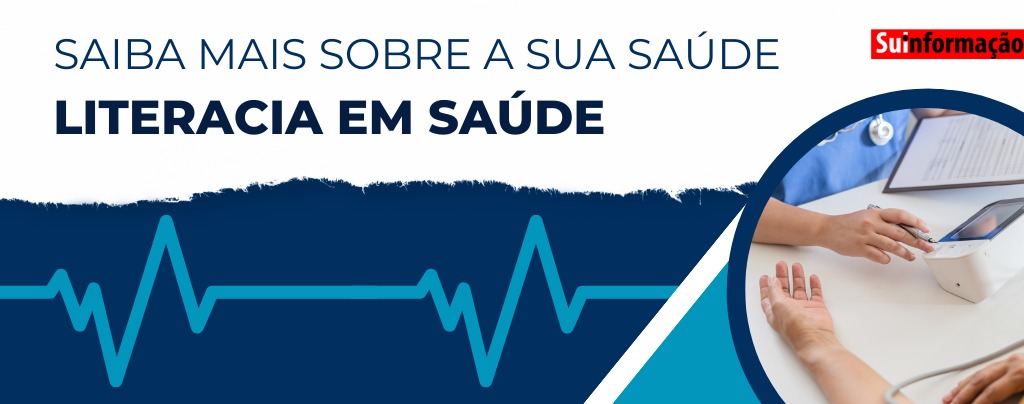




Comentários