Como é que os cientistas detetam os vírus? Sendo entidades sub-microscópicas, o melhor seria dizê-las nanoscópicas (o seu tamanho varia entre os 30 nm e os 500 nm, sendo quer 1 nm é um milhão de vezes menor que 1 mm – o novo coronavírus, SARS-CoV-2, tem cerca de 100 nm), não é estranho pensarmos que a sua deteção pela “simples” observação ao microscópio ótico seja muito difícil.
Só com microscópios óticos de alta resolução, com uma grande capacidade de ampliação, é possível observar as partículas virais. Aliás, a arquitetura viral só foi melhor conhecida com o advento do microscópio eletrónico e foi com ele que os virologistas, ou seja, os que se dedicam especificamente ao estudo dos vírus, captaram o perfil desses agentes patogénicos.
Foi exatamente pela observação microscópica em 1965 do perfil de vírus que se assemelhavam a uma coroa que o termo coronavírus foi atribuído a esta família viral.
Por outro lado, a cristalografia por difração de raios X (técnica usada para a resolução de estruturas moleculares) permitiu detalhar a regularidade espacial presente nas cápsulas proteicas (capsídeos) que formam os vírus.
O primeiro vírus a ser cristalizado, em 1935, e a ser estudado em detalhe por difração de raios X, em 1941, foi o vírus do mosaico do tabaco.
Curiosamente, foi Rosalind Franklin (1920 – 1958) – a menos conhecida e um tanto ignorada investigadora da estrutura do ADN – a resolver a estrutura tridimensional para este vírus em 1955.
A “visualização” por estas técnicas tem o “inconveniente” de não permitir manter os vírus num ambiente celular vivo: ao preparar a amostra a ser observada o investigador tem de imobilizar ou cristalizar “definitivamente” um momento da vida do vírus. O que se ganha em detalhe de forma, perde-se em dinâmica da atividade viral.
De volta ao ótico: com este microscópio é possível manter as preparações biológicas vivas e assim visualizar, com a paciência e perícia necessárias, as estratégias, movimentos e danos virais. Digamos que as duas visualizações se complementam.
Esta dificuldade na deteção visual dos vírus explica porque é que as primeiras imagens virais só foram obtidas indistintamente em meados do século passado.
Em 1938, B. Borries, H. Ruska e E. Ruska (este último foi galardoado com o prémio Nobel da Física em 1986 pelo desenvolvimento do microscópio eletrónico) apresentaram ao mundo a primeira micrografia eletrónica de vírus, mais precisamente dos vírus ectraomelia e vaccinia (responsáveis por tipos de varíolas), confirmando a existência física de uma entidade patogénica há muito tempo anunciada e combatida.
Recorde-se, a título de curiosidade, que os primeiros microrganismos foram visualizados com o microscópio ótico, no ano de 1668, por Antoine van Leeuwenhoek (1632 – 1723).
Pelo que se disse, fica suspeito que as primeiras investigações sobre a existência da entidade patogénica não celular responsável por doenças fatais, com enorme capacidade de propagação por contágio e infecção, devem ter sido efetuadas por outros meios de investigação que não os da microscopia.
De facto, o trabalho laboratorial de identificação e isolamento da entidade virulenta presente em fluidos biológicos filtrados, de soros animais ou de suspensões bacterianas, foi um trabalho hercúleo cuja história merece ser contada.
O passado dos vírus
Quando alguém sofre uma agressão física ou queda trágica é inquestionável associar o estado de doença, mais ou menos severa ou mesmo fatal, que daí advém, com a ferida causada pela espada do inimigo ou pela fratura eventualmente exposta na perna após um trambolhão.
Mas, quando alguém fica prostrado, da noite para o dia, ardendo em febre e com o corpo coberto de irrupções cutâneas e vermelhidão, sem que ninguém ou alguma coisa detetável por testemunhas oculares, auditivas ou olfativas seja identificada como a causadora direta da enfermidade, então a imaginação humana burila uma ira divina, uma praga inimiga, um mau olhar invejoso entre outras maldições metafísicas.
De facto, se é contra o senso dito comum entender que é a Terra a girar em torno do Sol e não o contrário, só com o nosso olhar desarmado e sem recurso a quaisquer lentes, não é de admirar que seja contra senso atribuir a organismos invisíveis aos nossos olhos a causa de inúmeras doenças.
E assim, durante muito tempo, recaiu sobre o hospedeiro infetado (a pessoa doente) a culpa pela origem e disseminação da peste e não sobre o microrganismo que o infetava, porque nele encontrava as condições ideais para se desenvolver.
Sabemos que Hipócrates de Cós (460-370 a.C.), o grego considerado o pai da medicina, terá efetuado por volta de 400 a.C. observações epidemiológicas de muitas doenças, apesar de não lhes ter atribuído nenhum agente orgânico causador.
Muitos séculos depois, em 1546, Girolamo Fracastoro (1478-1553) terá proposto a teoria segundo a qual as doenças epidémicas (isto é, as doenças que se desenvolvem num local de forma rápida e fazendo muitas vítimas, num curto intervalo de tempo) são contagiosas e se disseminam através de partículas diminutas e por longas distâncias.
Mas, a primeira associação entre uma doença e um organismo infecioso a ela específica de que temos conhecimento que tenha sido efetuada experimentalmente, foi realizada em 1863 pelo médico francês Casimir Devaine (1812 – 1882). A doença em causa foi o antraz, ou carbúnculo, e o microrganismo causador uma bactéria, o Bacillus anthracis.
Contudo, a demonstração, metodologicamente científica através de experiências controladas, de que esta bactéria é de facto o agente, ou o patogénio, causador daquela patologia, só foi efetuada em 1876 por Robert Koch (1843 – 1910) e Louis Pasteur (1822-1895) – este último o fundador da microbiologia.
Devemos a estes dois cientistas, entre outros, a proposta, demonstração e difusão da teoria que propõe serem microrganismos os causadores de inúmeras doenças, pondo um ponto final à teoria da geração espontânea de doença (e de vida!), primeiramente abalada, em 1668, pela bela experiência cientificamente controlada de Francesco Redi (1626 – 1697).
Mas voltemos aos vírus e respondamos à pergunta: quando é que surgiram as primeiras evidências de que havia doenças que, não sendo causadas por bactérias e não se gerando espontaneamente, seriam causadas por um agente até então não detetado?
Recordemos que os avanços na microscopia ótica, no final do século XIX, permitiam a deteção visual de bactérias mas não de vírus.
Koch e Pasteur puderam demonstrar a presença de bactérias nos líquidos com que inoculavam os animais que, em consequência, adoeciam. Ao filtrarem esses líquidos contendo bactérias para que o filtrado as não contivesse (o que podiam também confirmar e demonstrar com o microscópio) e se inoculassem com este preparo animais da mesma espécie, então, se estes não adoecessem, demonstravam assim que eram as bactérias os agentes patogénicos.
Mas, em 1892, uma observação intrigou a comunidade científica (e não só!). O cientista russo Dimitri Ivanovski (1864-1920) demonstrou que uma doença que atingia a planta do tabaco, a doença do mosaico do tabaco, poderia ser causada pelo “simples” contacto das folhas de uma planta saudável com o líquido resultante da filtragem do extrato de folhas doentes esmagadas, através de um filtro de Chamberland (filtro de porcelana porosa também chamado de Pasteur) que tinha poros suficientemente pequenos para impedir a passagem dos microrganismos então conhecidos.
Ou seja, Ivanovski mostrava ao mundo que um “agente filtrável”, mais pequeno do que bactérias, era responsável pelo espoletar de uma doença em plantas.
Em 1898, o alemão Martinus Beijerinck (1851-1931) repetia a experiência anterior e confirmava, de forma independente, a existência de algo causador da doença em soluções sem quaisquer bactérias.
Designou esse agente pela expressão latina contagium vivum fluidum (germe fluido vivo) e reintroduziu neste contexto a palavra vírus (também de origem latina e que significa toxina, veneno).
O debate sobre a natureza do agente filtrável alimentou então acesas discussões: seria um “fluido vivo”, uma “partícula” infeciosa, ou uma toxina?
Nesse mesmo ano de 1898, uma segunda constatação semelhante era efetuada em animais. Os alemães Friedrich Loeffler (1852-1915) e Paul Frosch (1860-1928), que trabalhavam com Koch, filtraram um líquido contendo o agente da febre aftosa (que hoje sabemos tratar-se de um vírus do género Aphthovirus) através de um filtro de Chamberland e mostraram que o filtrado continuava a causar doença.
Contudo, ao passarem o mesmo filtrado através de um filtro de Kitasato de grão fino (que tem poros muito mais finos) verificaram que a potencialidade de induzir infeção tinha ficado no filtro.
Com esta experiência, não só tinham demonstrado que o agente infecioso não era de natureza líquida, mas sim composto de partículas, como tinham identificado pela primeira vez uma forma de isolar um vírus que infeta vertebrados.
Para além disso, mostraram que o agente retido era capaz, de alguma forma, de se replicar. Estas descobertas marcam o início da virologia como disciplina científica.
Estes episódios de descoberta da natureza dos vírus ilustram bem o significado do que entendemos por descoberta científica. Embora Ivanovsky tenha sido o primeiro a observar a existência de algo que passava através de um filtro e que causava doença, todas as suas publicações mostram que ele não compreendeu que as suas observações implicavam a existência de um micróbio patogénico distinto das bactérias.
Beijerinck, por seu lado, estava convencido da existência de algo diferente das bactérias, mas sempre defendeu que possuía uma natureza fluida e não corpuscular.
Só Loeffler e Frosch é que enunciaram um conjunto de hipóteses e planearam experiências controladas de forma a poderem concluir, sem equívocos, sobre a existência de um agente novo, de dimensões sub-microscópicas, capaz de induzir doença e de se replicar: os vírus.
De facto, a boa ciência não se limita só a uma coleção de boas observações e dados novos. Necessita sempre que as novas evidências sejam processadas por um pensamento criativo e crítico que permita ao cientista fazer uma interpretação imparcial e correta das suas descobertas experimentais e chegar a conclusões verificáveis por todos.
Autor: António Piedade é Bioquímico e Comunicador de Ciência.
Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva














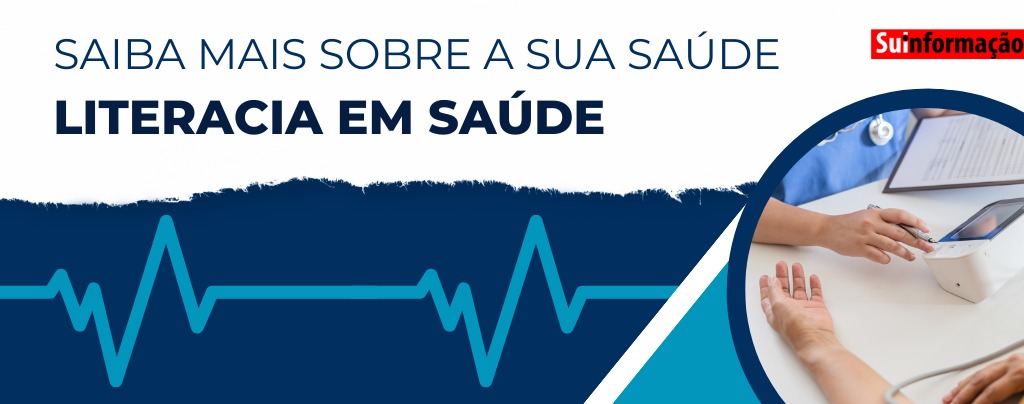




Comentários