Inauguro hoje uma colaboração com o Sul Informação há muito programada. O título desta primeira crónica corresponde ao nome genérico da rubrica em que todas as crónicas seguintes se integrarão. Por ser a primeira, pretendo através dela enquadrar o espírito que moverá as restantes – sendo mais longa por isso também.
Não sei com que regularidade publicarei, porque isso dependerá da avaliação que for fazendo da motivação para ocupar o espaço público com as minhas palavras e as minhas ideias: identificar alguma coisa que valha a pena dizer publicamente é, para mim, uma tarefa cada vez mais difícil, pelos motivos a seguir explicados.
Por um lado, porque não sinto qualquer vocação para o comentário da chamada «agenda mediática» – e, pelo contrário, reconheço essa qualidade e essa competência em vários comentadores e cronistas que acompanho regularmente na televisão, nos jornais, em blogues, no facebook. Com todos eles debato, com todos aprendo.
Por outro, porque sei que o ato de ler textos mais longos e pensados exige uma dedicação, um tempo e um silêncio que a voracidade consumista, a aculturação pós-moderna e os efeitos da precariedade e da extrema dureza que têm atingido as relações laborais e o exercício das profissões transformam, para muitos, num sacrifício que não estão dispostos a fazer ou não têm condições de empreender. Tudo isto torna mais espinhosa a escolha dos temas e do modo de os apresentar e desenvolver.
Passo, agora, à explicação do nome genérico que servirá de referência para as restantes crónicas: «Nas margens do tempo incerto».
Imagino o tempo de enorme incerteza que vivemos como um rio. E vejo-me vigilante numa das margens desse poderoso curso de água movido por violentas correntes, tão fortes que arrastam quem nele viva ou entre despreocupadamente sozinho ou desprotegido. No sítio onde escolhi ficar, corre esse caudal ainda por entre as margens que ele próprio foi cavando, mas sei que bastará uma inesperada torrente de chuva para que, libertando-se delas, invada tudo à sua volta, enlouquecido e infrene, como já aconteceu noutras paragens. Ciente do perigo de também eu ser arrastado, assisto, perplexo, inquieto, por vezes impotente, por vezes triste, à voragem com que leva à sua frente as vidas incautas e enfraquecidas que nele mergulham sem amarra. Escrever, para mim, é estender o braço e, quem sabe, ajudar alguma delas a recuperar o pé. No espelho daquelas águas revoltas pareço parado, pareço silencioso, mas não estou.
Esse rio tão poderoso e ameaçador possui muitos rostos, consoante o ponto de vista de observação.
Um deles é o do capitalismo selvagem a que agora os eufemismos tecnicistas chamam «neoliberalismo económico». Não sei, na carne e na alma, o que é esse neoliberalismo que os economistas seguramente são perfeitamente capazes de definir, mas todos os dias vejo nitidamente as marcas da sua selvajaria nos corpos exauridos, nos espíritos conformados, na revolta sem rumo, no desconjuntamento do sentido de partilha em comunidade. Vejo-o tomar conta de quase todos os espaços em que nos movemos, tentando afogar nas suas profundezas a promessa de sermos cada vez mais livres, de sermos cada vez menos desiguais, de vivermos numa sociedade cada vez mais solidária. Uma das suas maiores vitórias é ter conseguido quase fazer desaparecer do vocabulário comum o seu verdadeiro nome, que aqui repito, acompanhando a coragem do Papa Francisco sempre que o põe a nu: capitalismo selvagem. Cada um dos seus gestos e ações anuncia triunfantemente o propósito de derrotar a ideia social-democrata (e cristã) – generosa, mas comparativamente ingénua e quebradiça – do «capitalismo de rosto humano».
Outro dos rostos daquele rio é o da ascensão, sem derramamento de sangue e através da hábil manipulação dos instrumentos que a democracia lhes dá, dos populismos de extrema-direita, contaminando com as suas palavras e as suas ideias venenosas a agenda dos partidos democráticos e da comunicação social, alimentando-se do enfraquecimento e deslaçamento social provocado pela deriva selvagem do capitalismo e pelos vícios e vilanias dos próprios regimes democráticos. Aos seus protagonistas chamei abutres, numa intervenção recente inspirada num sublime poema de Sophia de Mello Breyner Andresen («O velho abutre»). Como os abutres funcionam em bando, como os abutres têm o olfato especialmente desenvolvido para detetar a grande distância a putrefação da carne, como os abutres são necrófagos, como os abutres são pacientes. E eu abomino os velhos abutres e os seus aprendizes.
Outro rosto que vejo quando olho para o rio é o do egocentrismo exacerbado pelas redes sociais. É um individualismo narcisista, disforme, descomprometido, aculturado – em suma, soberbamente pós-moderno, mesmo quando os próprios não têm consciência disso. Uma das marcas identitárias mais torpes do pós-modernismo foi a de ter sido o machado que arrancou as raízes ao pensamento, ao contrário do que exprimia o poema de Carlos Oliveira cantado por Manuel Freire: o pós-modernismo a-historicizou tudo, assim se transformando num dos maiores aliados do capitalismo selvagem. É esta a sua lição subliminar que tantos atinge sem disso se aperceberem: «Não há profundidade, não há verdade, não há realidade, não há estabilidade, não há fronteiras definidas. Tudo é nada, tudo é tudo, nada é nada, nada é tudo. A tua opinião sobre este assunto vale tanto quanto a do especialista que passou anos a estudá-lo. Mentira e verdade têm o mesmo valor – sobretudo se a tua opinião (a que tens o direito de chamar «a tua verdade», mesmo quando baseada numa mentira) for reforçada por muitos ‘laiques’ virtualmente depositados pelos membros da tribo, também virtual, na qual estás entricheirado».
Embora sabendo que ele é mais multifacetado, descreverei apenas mais um rosto desse rio intimamente relacionado com o anterior: o desaparecimento progressivo da tolerância enquanto fator de crescimento individual e edificação do sistema democrático. A frase que melhor resume essa aprendizagem tão difícil – da autoria de uma biógrafa de Voltaire – diz assim: «Discordo do que dizes, mas defenderei até à morte o teu direito a dizê-lo. / I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it» (Evelyn Hall, The Friends of Voltaire, 1906). O que é muito diferente de: «Fica na tua que eu fico na minha.» O que acabo de afirmar parece contraditório com a firme condenação que fiz da extrema-direita populista. Não é, porque tal como a liberdade, também a tolerância tem limites: não sou tolerante com quem, ainda que disfarçadamente, lidera esses movimentos, usando as prerrogativas que a democracia lhe oferece para a destruir.
Uma das vitórias mais eficazes desse rio infrene de mil faces é o facto de os parágrafos que acabei de escrever parecerem radicais a uma parte dos leitores desta crónica. Estou ciente disso e, ainda assim, decidi escrevê-los. Não gosto do radicalismo, mas amo a radicalidade enquanto exercício de um fulgor intelectual solidamente suportado em raízes profundamente enterradas no húmus fértil (de que também é feita a humildade) e que a ele regressa, desassossegado, antes de novamente se elevar. Na atividade cronística que hoje inicio, procurarei elevar-me de cada vez, desejando com isso contribuir para que outros se elevem. Sem nunca tirar os pés e as suas raízes do húmus a que sempre regressarei.
Sim. Para esta nova viagem, parto de um lugar em que estou vigilante e de pé, numa das margens desse poderoso rio de violentas correntes, tão fortes que arrastam quem nele viva ou mergulhe sozinho ou desprotegido. E sei que a única maneira de não ser arrastado por ele é recusar-me a ficar sozinho nas margens do tempo incerto.
Autor: António Branco é professor e foi reitor da Universidade do Algarve














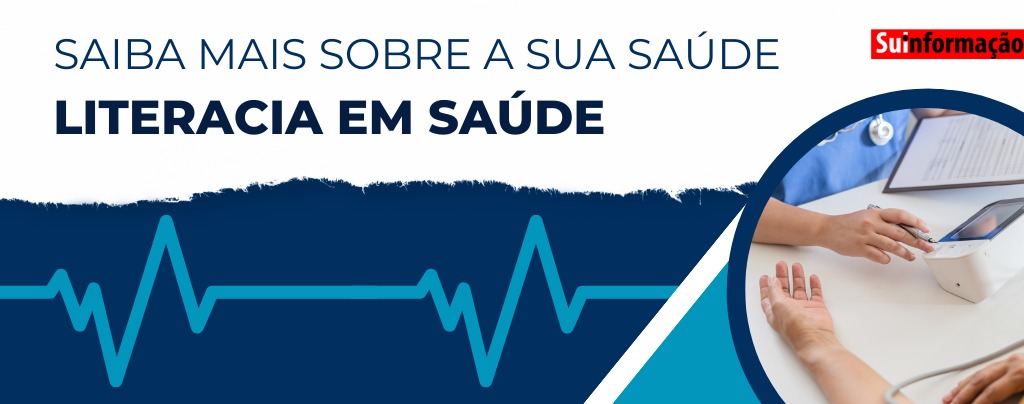




Comentários