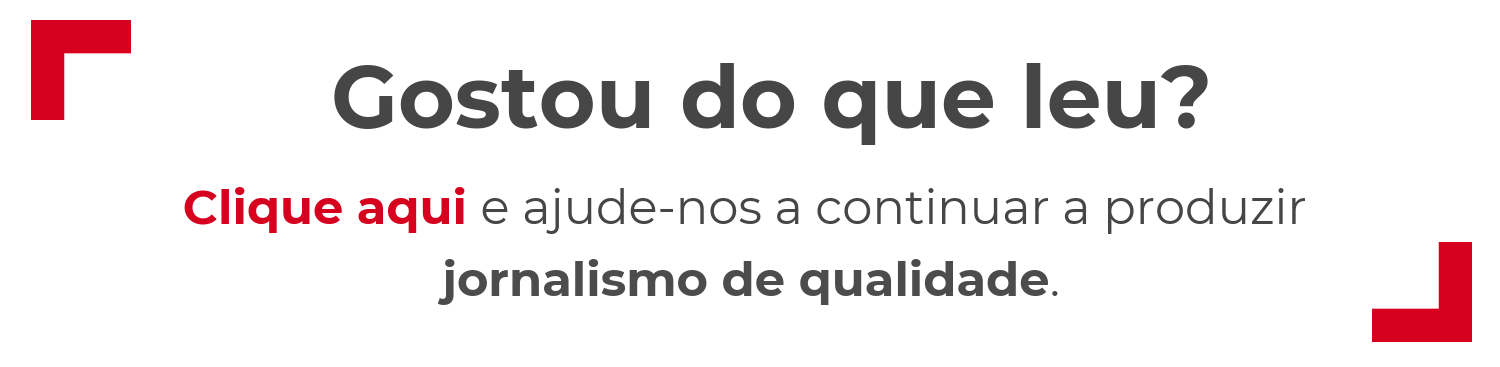Num momento em que grandes incêndios lavraram – novamente, e como sempre – a paisagem da região, percorrendo algumas das áreas já tradicionais no roteiro do fogo algarvio, assaltam-nos as dúvidas de sempre.
Como foi possível? O que falhou? De quem é a culpa? Será que não aprendemos nada com o fogo de [inserir ano a gosto], em [inserir local a gosto]?
Estas são na verdade questões genéricas, como genérica é a nossa preocupação.
Obviamente, inquietamo-nos com a tragédia que se abate sobre as pessoas. E sem olhar a quem, já que o medo, o terror e o desnorte se reflectem de igual forma no olhar de residentes ou turistas, nacionais ou estrangeiros, ricos ou pobres. A catástrofe iguala-nos a todos, porquanto nos nivela no chão de fragilidade partilhada, face ao poder dos elementos naturais. E poucos, no Algarve, nunca terão passado pelo aperto de um fogo que se avizinha.
Ao mesmo tempo, a sociedade cliva-se, em blocos tumultuosos que esgrimem, de dedo em riste, argumentos de natureza variada. Tudo exacerbado por condições climatéricas perfeitamente adversas, e ignições que se originam nas mais suspeitas circunstâncias. As análises e diagnósticos abundam, os contributos de especialistas sucedem-se. Mas não passamos de casa onde não há pão…
Os ritmos e o guião da nossa dor são-nos dados pela comunicação social, nas mais variadas plataformas. Valendo uma imagem mais do que mil palavras, esta “época de fogos” não escapará já ao heroísmo providencial da versão contemporânea, sarada e leiriense de S. João Batista (João Morgado, de seu nome), carregando o Agnus Dei, em roupa interior de marca, numa sublime reunião de imaginários sagrados e profanos. Mas, para lá do impacto imediato que as imagens provocam em nós, pouco fica.
Encaremos a realidade: se as tragédias de 2017, com centenas de mortes, não nos marcaram, nem nos empurraram para uma cidadania exigente ao nível da gestão da paisagem, nada o conseguirá. Por muito que a maioria dos repórteres daquilo que hoje passa por jornalismo televisivo rasgue as vestes, em transe histriónico, quando não mesmo histérico, o grau de inscrição de tanto espectáculo é reduzido. Ou porque já estamos saturados, ou porque, face à concorrência imediata da “next big thing”, nem há tempo para verdadeiramente assimilar qualquer significado, para lá do mero boneco.
É por isso que embora agora se discuta imenso o ícone João Morgado, não tarda será uma memória tão distante como a do senhor Manuel Nascimento, de Tondela, que morreu em 2019, dois anos depois de o Presidente da República lhe ter feito, no rescaldo do fogo, uma promessa que nunca cumpriu, num momento eternizado por João Porfírio.
Ou tão longínqua quanto a de João Guerreiro, coordenador das comissões técnicas independentes responsáveis pela análise dos dramáticos incêndios de, justamente, 2017, cujos relatórios apontaram erros e apresentaram propostas para reformas estruturais na paisagem portuguesa, entendida no seu sentido maior, de síntese de terra e gente.
Penso que restarão hoje poucas dúvidas de que estas reformas nunca acontecerão – agradece-se, rogadamente, a demonstração de erro nesta frase. Não tanto pela inescapável escassez de recursos económicos e financeiros do país (quem tem PRR, tem tudo…), mas por um défice político, partilhado por todos nós, que nos agregamos enquanto sociedade.
Estas medidas assentam na coesão territorial e na correcção das assimetrias económicas e sociais que esvaziam vastas extensões da paisagem, criando aflitivos desertos humanos e deixando um mero território à mercê do acaso. Indiferente a desmandos de gestão, a paisagem obedece assim apenas a ritmos da Natureza, que tantas vezes reúnem Atlântico e Mediterrâneo, numa mistura rica. De combustível. Que cresce, e assim alimenta o fogo, que é um processo – e não objecto – ao qual, mais do que a forma como começa, interessa as condições existentes para o seu desenvolvimento.
Mudar este estado de coisas é um projecto a gerações, portanto, tal como vem de há gerações o problema. Muito acima de ciclos eleitorais, muitas das medidas necessárias representam, de resto, autênticos suicídios políticos para quem as queira corajosamente assumir.
Porque somos um País de aparências, e não de substância. Gostamos de enganos, desde que isso nos poupe ao transtorno de enfrentar o trabalho que implica mudar a realidade.
O caso do espaço “florestal” (aceitemos, sem discussão, para efeitos de reflexão, esta designação) do Ludo, agora consumido pelas chamas, paredes-meias com algumas das propriedades mais caras e valiosas do Algarve e com a Universidade regional, mostra que o abandono se paga caro, até mesmo quando é gourmet e acontece bem perto da vista, ao contrário do interior esquecido.
Só para que se tenha noção, e fruto de um processo que tem origens no séc. XIX, quem queira olhar a fundo a questão da titularidade nesta zona, ficará com sérias dúvidas acerca da posse de alguns terrenos ou, no mínimo, da forma como esta evoluiu. Entretanto, vai prevalecendo um impasse entre interesses (principalmente conservacionistas e imobiliários) incidentes sobre estas paisagens, enquanto a realidade se vai impondo, criando um mosaico de usos tão díspares como a exploração de sal e lixeiras, estaleiros de construção civil, viveiros florestais abandonados ou matos e matas descontroladas, sob um chapéu de generalizada falta de manutenção. Dá-se um acaso, ou surge uma má intenção, e temos um problema em mãos.
Este pequeníssimo exemplo, numa zona enobrecida pelos valores naturais e animada pelos valores especulativos do imobiliário e turismo, é insigne montra do que é a realidade de boa parte da gestão paisagística no Algarve, e em Portugal. E das suas consequências.
Disto consciente, e num exercício que, ainda que seguramente bem-intencionado, resulta num ensaio orwelliano – à imagem de outros, muito bem sucedidos, a reboque da pandemia – o Governo ainda tentou proteger-nos de nós próprios, somando ao “dispositivo” (sempre à prova de falha, comme il faut) a supressão ou limitação de um conjunto de direitos, liberdades e garantias, impondo uma espécie de confinamento parcial/sectorial climatérico. Nem assim.
Aqui, importa sempre lembrar que qualquer Governo não é “O” culpado da situação que se vive. Mas todos são inteiramente responsáveis. Este Governo, tem a particularidade de ter prometido, num não muito longínquo arremedo propagandístico, ter realizado a maior reforma da floresta desde os tempos de D. Dinis. Ou “O Lavrador” fez pouco, ou a coisa não se deu…
Não querendo ser desmancha-prazeres, convém lembrar que, em 1853, D. Pedro V, através de Fontes Pereira de Mello, então Ministro das Obras Públicas, Comércio e Indústria, mandou constituir uma comissão, cuja missão era elaborar um Código Florestal que coligisse a legislação dispersa relativamente a essa matéria e a harmonizasse com “os principios da sciencia”. Fê-lo, entre outras razões, para tentar dar continuidade e corpo ao plano de fomento florestal lançado antes, pela Rainha D. Maria II (que incluiu distribuição gratuita de sementes, ficando as Câmaras Municipais com a responsabilidade de organizar os projectos de povoamento florestal).
Ou seja, não é de hoje que andamos a tentar perceber o que fazer em termos da floresta. Não é de hoje que vai produzindo legislação a granel, sem o cuidado de a articular com o conhecimento técnico sectorial que pretende regulamentar. E, principalmente, não é de hoje que se acha que a criação de uma comissão é panaceia para todos os males.
Depois disto, virá aí mais uma?
Autor: Gonçalo Gomes é arquiteto paisagista, presidente da Secção Regional do Algarve da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP).
(e escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico)