Ainda mal refeitos de Castro Marim, Tavira e Vila Real de Santo António, e de milhares de hectares ardidos, vemos o sobressalto e as perdas devido aos incêndios no Algarve regressar, em novo episódio, através do fogo que, novamente em Monchique – onde já este ano esteve – trepa já pelos seus contrafortes a Norte, vindo de Sabóia.
Esta autêntica telenovela, como tantas outras, vive de um argumento batido e de péssimas representações. No entanto, parece continuar a surpreender muita gente.
Olhando para o sucedido no Sotavento, ainda há poucos dias, os alertas para as condições propícias que o tórrido calor criava estavam lançados, mais que badalados, e a zona da deflagração estava perfeitamente identificada como uma das mais perigosas (entendendo-se aqui o conceito como o produto de probabilidade de ocorrência e susceptibilidade) e a mais atentamente vigiar, no contexto do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios de Castro Marim.
Acesa a chama, o fogo seguiu o rumo ditado pelo forte vento que se fez sentir, alimentado por combustível com fartura e embalado por temperatura e humidade do ar conveniente, alastrando aos concelhos limítrofes. E, muito importante, com pouco e quase ninguém para atrapalhar a sua marcha.
Foi então tempo da realidade fazer aquilo que sempre teima em fazer, que é impor-se à ficção de planos e teorias.
Aquele incêndio, tendo a particularidade de se ter agigantado já após ter sido considerado dominado, origina ainda um rescaldo escaldante, na infindável discussão sobre o que foi o combate, sua organização, falta dela, escassez ou abundância de meios, empenho e assistência às populações, entre tantos outros aspectos da especialidade.
No entanto, estes dramas que anualmente se repetem (por vezes, como em 2017, com consequências catastróficas – mais de uma centena de mortos, para quem possa, com ligeireza, ter esquecido ou querer apagar da memória), são cada vez menos histórias de fogo, e mais histórias de paisagens. E de gente, porque gente e paisagem são indissociáveis.
E, concretamente, de paisagens em desequilíbrio crescente, precisamente por falta de gente.
O aparecimento do fogo é praticamente inevitável, pelas mais variadas razões, sejam elas criminosas, acidentais ou outras. Vivemos sob influência do clima mediterrânico e o material vegetal cresce com uma força e continuidade particular. Junte-se a isso as adaptações da vegetação que cobre zonas como estas – a esteva, por exemplo, desde o ládano (goma das folhas) até ao tegumento da maior parte das suas sementes – e encontramos uma relação próxima com o fogo. As condições que se colocam para a progressão desse fogo são o que dita a dinâmica subsequente.
No contexto das nossas paisagens, torna-se inescapável o facto de, sem gente presente, não haver qualquer gestão e, dessa forma, se criarem as condições, por acumulação e continuidade de combustível e simplificação do mosaico paisagístico, para o inundar de mares de chamas como este a que assistimos, e que povoará os pesadelos de muita gente, durante muito tempo.
E é indiferente o substrato. O coberto vegetal da Serra de Monchique e da zona de Alta Mora representam mundos completamente diferentes, mas partilham o destino.
Qual é então o elo de ligação entre estas realidades? Os Censos 2021 explicam, mesmo que apenas através dos seus dados provisórios.
Olhando para o concelho de Castro Marim, vemos que é bem representativo da realidade algarvia, em termos do esvaziamento do “interior”, pese embora a relatividade deste conceito no Algarve, onde a distância máxima ao litoral se mede em meia centena de quilómetros e, como dizia António Pereira, o mar está sempre ao fundo da rua.
De acordo com os dados provisórios dos últimos censos, a população total deste concelho diminuiu, números redondos, em cerca de 5%, relativamente a 2011. Se, para ter uma ideia mais abrangente da dinâmica, olhássemos aos anos 60 do século passado, a perda cresceria para 36%. Na última década, na freguesia de Castro Marim, houve um aumento centesimal mas, nas restantes, a quebra populacional é a regra, culminando nos 25% (!) da freguesia de Odeleite, onde o fogo iniciou. Nesta freguesia, a densidade populacional é hoje de 4 habitantes/km2, e na de Azinhal, imediatamente a Sul, é de 7. Mesmo se não considerarmos a concentração populacional em núcleos edificados, fica clara a dispersão (e resiliência) da ocupação.
Se à quantidade juntarmos a idade, verificamos que em 2011 (para 2021 não está ainda disponível a informação, mas assumamos, de forma optimista, que o cenário pelo menos se mantém), 27% da população de Castro Marim tinha 65 ou mais anos – quando, novamente, na década de 1960, esta faixa etária correspondia a 10%.
Monchique perdeu, na última década, 10% da sua população. Em relação a 1960, perdeu 63%. Em 2011, 32% da sua população estava acima dos 65 anos (11% na década de 60 do século passado).
Um olhar sobre as actividades tradicionalmente rurais, como agricultura e pecuária, que ocupam gente e dinamizam a paisagem, diz-nos isso mesmo.
Desde a entrada no Séc. XXI, em Castro Marim há quebras nos efectivos de gado numa média de 40% (de acordo com dados retirados do Instituto Nacional de Estatística), podendo chegar aos 75% (suínos), acompanhadas de um desaparecimento quase total de culturas cerealíferas e hortícolas – mesmo que estas nunca tenham sido particularmente significativas.
Em Monchique, verifica-se o mesmo processo de redução muitíssimo significativa de áreas ocupadas por culturas associadas à alimentação das populações, como olival, leguminosas, grão, feijão, milho, centeio e trigo. Também em termos de gado, são tremendas as reduções do número de cabeças, sendo aqui a suinicultura a notável excepção.
E, transversalmente, uma redução da acessibilidade aos serviços de interesse geral (saúde, escolaridade obrigatória, emprego e formação, habitação social, infantários, cuidados de longa duração, serviços de assistência social, transportes públicos, segurança, justiça, energia, comunicações, etc.). Os serviços mínimos da dignidade, se quisermos.
Estes padrões podem não traduzir, forçosamente, um nexo de causalidade. Mas também não podem ser ignorados na reflexão. Porque, desumanizadas e envelhecidas, estas paisagens assistem à progressão de processos de depressão social e económica.
A doença demográfica contagia assim a paisagem e, por maioria de razões, a competitividade, a coesão territorial ou, como no caso, a gestão do risco. E andamos a tratar esta doença crónica com aspirinas e anti-inflamatórios, que acabam por redundar em placebos muito caros, que pagamos não apenas com dinheiro, mas também com futuro.
A revolução de fundo na paisagem que as comissões técnicas independentes diagnosticaram como fundamental, na ressaca da tragédia dos fogos de 2017, nunca avançou – talvez devessem, provocatoriamente, ter proposto a reactivação da Junta de Colonização Interna. Demasiado trabalhosa, custosa, pouco apelativa – quando não mesmo contrária – aos interesses dominantes, a ideia ficou-se por medidas avulso, de que o Programa de Transformação da Paisagem é exemplo, sem qualquer enquadramento numa abordagem integrada ao problema do ordenamento e desenvolvimento territorial.
Continuaremos assim a elaborar planos “florestais” (mesmo onde não exista floresta ou similar) ou de outra índole sectorial, desgarrados de um processo de revitalização das paisagens rurais que consiga inverter as tendências de abandono, revelando a coesão territorial portuguesa como criatura mitológica que sobrevive muito mal fora do papel das estratégias, planos e discursos.
É aqui que importa haver um alargadíssimo debate colectivo, para clarificar o que desejamos, afinal.
Se estamos na disponibilidade de aceitar as coisas como estão, será incontornável interiorizarmos um certo conformismo perante o sacrifício recorrente de vastas porções do território, que assumimos perdidas para os grandes incêndios e outros fenómenos que escapam ao nosso controlo. Por outro lado, se queremos reivindicar novas soluções para tentar resultados diferentes, temos que nos mobilizar e empenhar, colectivamente, já que a todos, directa ou indirectamente, acaba por dizer respeito.
Esta reflexão, em busca do melhor modelo de reconciliação entre paisagem, população e economia é um projecto de futuro, complexo, participado, partilhado, de grandes investimentos em coisas que parecem pequenas (como serviços de ecossistema, que não enchem o olho ou os panfletos de campanha eleitoral), pleno de coisas que não sabemos e outras que nem sabemos desconhecer, erros a cometer, e ao longo de gerações. Como tal, desconfie-se de quem disser ter uma “munição prateada”, que se carrega numa qualquer bazuca.
Nenhuma das escolhas que temos pela frente é fácil. Mas elas são cada vez mais urgentes.
Autor: Gonçalo Gomes é arquiteto paisagista, presidente da Secção Regional do Algarve da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP).
(e escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico)

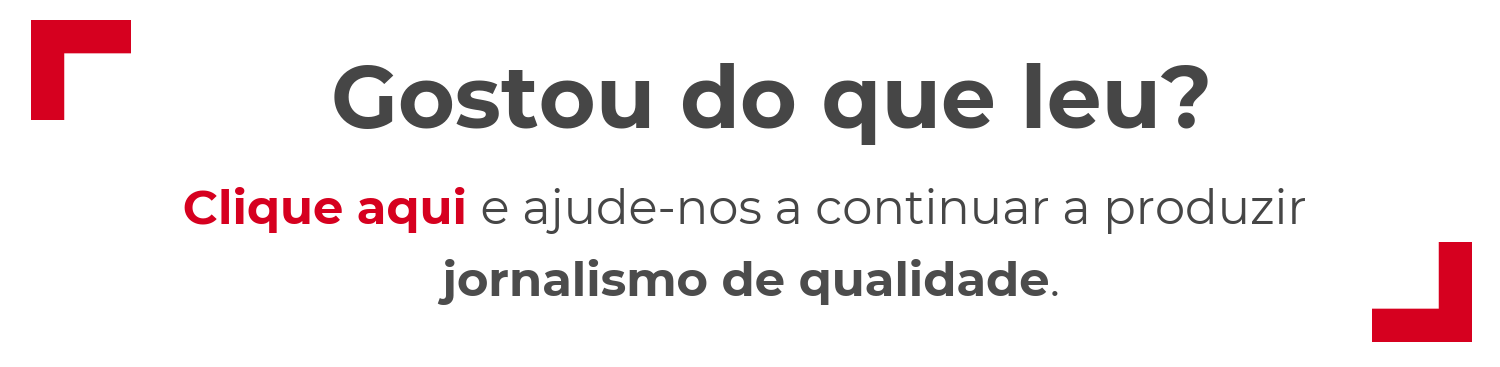













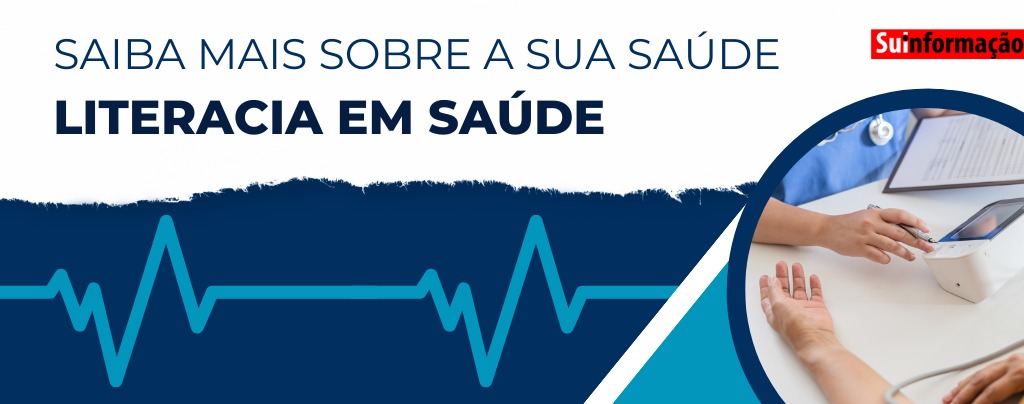




Comentários