Quando vemos um cão a perseguir as rodas de um carro, a pergunta que se impõe é: e se ele finalmente as apanhasse, saberia o que fazer com elas?
O Algarve tem mais ou menos a mesma relação com a água: geralmente ressequida, a região sonha com o precioso líquido em abundância, mas quando ele surge, o resultado é desastroso.
Um adágio latino milenar – “água, vida e morte” – traduz de forma simples mas eficaz a presença da água em zonas de influência mediterrânica. A fundamental água que nutre e fertiliza a paisagem, é também a que destrói tudo à sua passagem, se não lhe for dado o necessário espaço. A interiorização deste entendimento traduziu-se na forma como as paisagens foram construídas e ocupadas, modelando e espacializando uma lógica territorial de equilíbrio entre aspectos construtivos e destrutivos.
O nosso modelo territorial actual é bem diferente e, com ele, a nossa relação com a água alterou-se. Hoje entendemo-la meramente como bem de consumo, transaccionável, que corre em canais e tubagens, e sai em torneiras. Perdeu-se o entendimento e, principalmente, o respeito, pelo seu poder enquanto agente modelador da paisagem.
Há dois anos, a Agência Portuguesa do Ambiente publicou o relatório de “Avaliação preliminar dos riscos de inundações em Portugal Continental”, que traçou um diagnóstico das Áreas de Risco Potencial Significativo de Inundação presentes em cada uma das oito regiões hidrográficas em que se divide Portugal Continental, sendo a preocupação central a avaliação da ameaça à integridade de pessoas e bens.
No Algarve foram contabilizadas 13 áreas de risco significativo de inundação, três em áreas costeiras, e a restante dezena em sistemas pluviais e/ou fluviais. Mas, como não choveu praticamente nada desde então… ninguém ligou muito.
Os padrões de ocupação territorial no Algarve são marcados por um profundo desprezo pelas necessidades espaciais dos sistemas fundamentais da paisagem, entre os quais se destaca a rede hidrográfica.
Assistimos assim à proliferação de ocupações (desde habitações a zonas industriais), desvios e estrangulamentos de linhas de água e dos seus leitos de cheia, à artificialização e impermeabilização das bacias drenantes (eliminação dos elementos naturais de regulação hídrica como meandros do seu trajecto, bacias naturais de retenção e dissipação ou a vegetação das galerias ripícolas), impedindo infiltrações e aumentando velocidades e energia no sistema. Sem falar na generalizada falta de limpeza e manutenção de margens e talvegues, acumulando resíduos que depois são arrastados, formando autênticos aríetes.
Uma espécie de colesterol paisagístico, para tornar a coisa mais gráfica.
Ora quando, como nos últimos dias, o Algarve é igual a si mesmo e recebe chuva em regime torrencial – que é, naturalmente, o seu – com quantidades, por vezes absurdas, de precipitação concentrada em intervalos muito curtos, originando subidas rápidas de caudais e de níveis de água, que para algum lado têm que escoar… é como se a região tivesse autenticamente um enfarte, gerando-se o caos. Se a tudo isto se juntar uma preia-mar, o cenário em zonas litorais torna-se mesmo dantesco, por incapacitação dos sistemas de drenagem pluvial pela maré.
Projectando o potencial de ampliação que o fenómeno das alterações climáticas pode aqui ter, é só escolher o adjectivo.
Desta feita, felizmente não há perda de vidas a lamentar, e os estragos, embora sempre significativos (até porque a circunstância pandémica agudiza fragilidades e complica recuperações), não se comparam a outras ocasiões. Mas, nestas alturas, gosto sempre de lembrar a mais épica justificação dada para estas ocorrências, vinda do efémero Ministro da Administração Interna Calvão da Silva, quando em 2015 visitou Albufeira, na ressaca das inundações desse ano: “a fúria da natureza não foi nossa amiga”, “Deus nem sempre é amigo, também acha que de vez em quando nos dá uns períodos de provação” ou enfrentámos “a força da natureza na fúria demoníaca”.
Porque se ele o verbalizou, a verdade é que quase todos praticam esta profissão de fé no que a este risco diz respeito: nada fazer (a não ser, muitas vezes, agravar) e esperar que tudo corra pelo melhor.
Se é facto que há situações que, pelo seu grau de consolidação, apenas permitem controlo de danos, outras há em que a única coisa que falta é vontade, e assumir a resolução destes problemas vasculares da paisagem como tarefa e investimento estrutural.
Caso contrário… façamos figas.
Autor: Gonçalo Gomes é arquiteto paisagista, presidente da Secção Regional do Algarve da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP).
(e escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico)













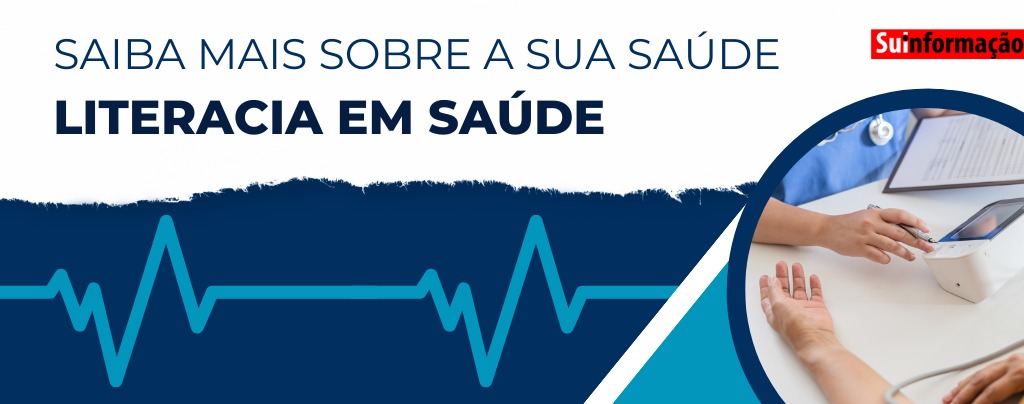




Comentários