Todos têm um plano até serem atingidos.
Joe Louis, pugilista, 1914-1981
A pandemia revelou, com crueldade aterradora, as incongruências da sociedade contemporânea e como ela assenta em bases largamente insustentáveis.
A globalização, que trouxe benefícios para muitos, deixou também um rasto de destruição em outros tantos lugares, ao transformar-se, principalmente nos últimos 30 anos, num processo afastado da economia real, financeirizado, desenraizado dos territórios e cada vez mais suscetível a crises recorrentes.
Dois aspetos fundamentais tornaram-se relativamente evidentes com o alastrar do surto da Covid-19 e com o confinamento forçado na maior parte dos países da Europa e do mundo.
O primeiro sublinha como o estreitamento das funções do Estado, com a privatização de serviços essenciais para a vida coletiva – como foi o caso da Saúde – limitou a capacidade de resposta à crise sanitária.
O segundo relaciona-se com o desaparecimento progressivo da capacidade produtiva industrial em muitos países – particularmente em bens que se revelaram essenciais na fase crítica dos surtos, como máscaras ou ventiladores – confiantes nos fluxos globais de comércio, principalmente da China.
Estes dois aspetos limitaram a resiliência das economias de diferentes países e regiões à crise de curto prazo gerada pela Covid-19.
Aprofundar a discussão sobre resiliência económica carece de duas considerações. A primeira, o facto de ser uma característica de sistemas adaptativos complexos. Isto quer dizer que, apesar dos mecanismos ainda não serem claros, existe uma relação entre a resiliência em diferentes níveis.
A resiliência de um país não é independente da resiliência das suas regiões, das comunidades, da resiliência das organizações e dos indivíduos. E vice-versa. É, portanto, fundamental pensar e agir em diferentes planos.
A segunda consideração é que a resiliência é um fenómeno dinâmico. O que pode ser entendido como um sinal de resiliência e de recuperação rápida pode não ter afinal sustentação para se manter durante muito tempo e criar fragilidades graves para a crise seguinte.
Por outras palavras, a recuperação da economia, em termos do produto e emprego, até pode vir a ser acelerada (caso se encontre solução definitiva para a própria pandemia – o que ainda está por fazer) mas não vai resolver o problema sistémico da sociedade contemporânea nem as fraquezas estruturais da economia portuguesa no longo prazo.
O entendimento mais comum de resiliência remete para a capacidade de um sistema em manter sua estrutura face a choques e perturbações externas (resistência – aguentar o golpe que Joe Louis mencionava, sem vacilar) ou a capacidade de recuperação (levar o murro, cambalear ou mesmo ir ao tapete, mas erguer-se rapidamente). Mas é mais do que isso.
As duas vertentes anteriores de resiliência são essenciais para o bouncing back, o regresso à “normalidade”.
Mas a resiliência deve ser também entendida como a capacidade de adaptação, de levar o murro e apresentar novas respostas com base na estrutura e capacidades existentes (a reorientação, que é essencialmente modificar a tática).
Ou a geração de novos caminhos para mudar a própria estrutura (a renovação, que é a alteração profunda da estratégia e das capacidades).
Estas vertentes transformadoras de resiliência são cruciais quando não se quer voltar ao “normal” anterior – porque esse “normal” é ele próprio parte do problema. São as fontes para um salto em frente, o bouncing forward, a criação de um “novo normal”.
Admito por isso, que seja relativamente consensual que a superação da crise económica em Portugal (e no Algarve – um caso particularmente extremo de concentração da atividade económica num setor frágil e exposto, o turismo) depende de uma mudança estrutural. Não devemos querer voltar para o passado. Para antes da pandemia. Precisamos de um novo futuro.
Mas isto não é nada fácil de concretizar. Tentativas para a mudança estrutural na economia não são simples. Existem muitas dependências de trajetória, muitas amarras ao passado, a poderes instituídos que limitam as verdadeiras possibilidades de renovação.
Em teoria, a mudança estrutural de uma economia pode basear-se em quatro tipos de apostas. O primeiro, a modernização, refere-se no essencial à incorporação de tecnologias transversais, como as tecnologias de informação ou novas formas de energia, em sectores dominantes.
O segundo, a diversificação sugere o reforço de um leque alargado de atividades económicas, reduzindo a dependência em relação a cada uma delas. O terceiro, a transição sugere a necessidade de transferir recursos e saberes de sectores em decadência para outros relacionados, mas com maior potencial de crescimento.
Por último, eventualmente mais difícil de alcançar é a fundação radical, a criação de nova área, de rápido crescimento baseada em recursos – em particular de C&T – existentes na região.
Na prática, a seleção de um novo caminho é algo muito complexo. Uma estratégia envolve escolhas, tem de ser seletiva porque os recursos não são infinitos. Apostar numa atividade económica é abandonar uma miríade de tantas outras. Que são ou podiam ser importantes.
Por isso, é preciso sabedoria – e não apenas informação ou conhecimento – para selecionar as prioridades certas. O caminho escolhido deve ser transformador, o que também implicará certamente uma mudança de paradigma sobre o papel do Estado.
Este pode e deve ser inovador e tem de assumir riscos, não apenas como espaço de regulação institucional, dos mercados e da sociedade, ou com políticas keynesianas na resposta às crises, mas como principal animador e financiador do desenvolvimento e implementação de inovações baseadas na cooperação coletiva para a resolução dos grandes desafios societais, como as pandemias que hão de vir, a próxima crise financeira que está a chegar, ou a emergência climática que não desapareceu.
Já fomos atingidos. O murro ainda lateja na cara. É tempo de termos um plano a sério e metê-lo em ação.
Autor: Hugo Pinto
Economista; Investigador e Coordenador do NECES – Núcleo de Estudos em Economia, Ciência e Sociedade do Centro de Estudos Sociais, Universidade de Coimbra; Professor convidado da Faculdade de Economia da Universidade do Algarve; Especialista da Comissão Europeia
Nota 1: O conteúdo deste artigo não reflete necessariamente a posição do Centro de Estudos Sociais, da Faculdade de Economia nem da Comissão Europeia. A opinião expressa é da inteira responsabilidade do autor.
Nota 2: artigo publicado ao abrigo do protocolo entre o Sul Informação e a Delegação do Algarve da Ordem dos Economistas
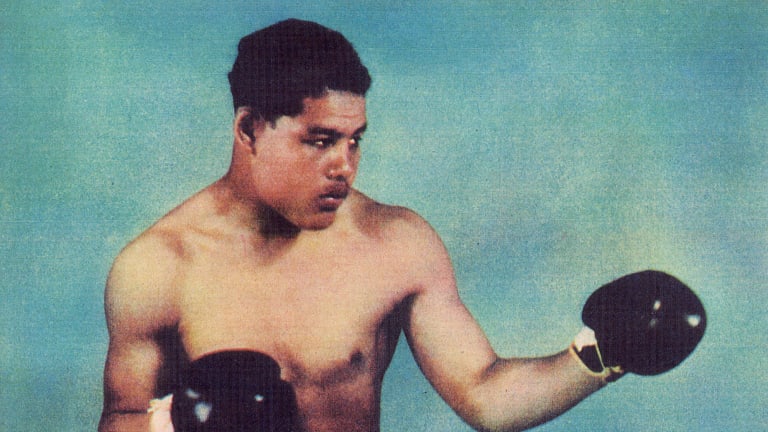













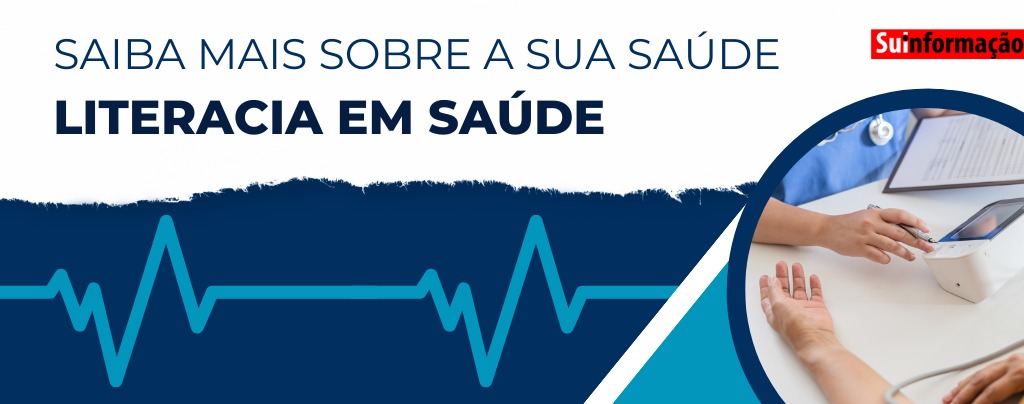




Comentários