No seu último artigo sobre “O Covid-19 e os dois calcanhares de Aquiles do Algarve”, aqui no Lugar ao Sul, o Gonçalo Duarte Gomes veio relembrar, de forma consciente e ponderada, as vulnerabilidades da região algarvia perante a actual pandemia, mas terminava com uma mensagem de esperança, escrevendo que “A noite é sempre mais escura antes da alvorada. Mas, infalivelmente, o Sol volta a nascer”.
Hoje, regresso eu aqui ao Lugar ao Sul para reforçar esta mensagem de esperança, relembrando que a História da Humanidade esteve já sujeita a adversidades semelhantes e que, invariavelmente, a História nos relembra que os períodos de crise são cíclicos e que a Humanidade volta sempre a encontrar o seu equilíbrio na luta constante para sobreviver e para se manter sã em períodos difíceis.
Nas últimas semanas, não raras vezes tem sido relembrada a peste negra em associação à rápida propagação do novo coronavírus. A peste negra subsiste no nosso imaginário como uma das epidemias mais mortíferas da História, absolutamente avassaladora, responsável por dizimar uma parte significativa da população.
Efectivamente, esta epidema teve repercussões muito nefastas nos continentes asiático – de onde foi originária – e europeu, sobretudo entre os anos de 1346 e 1353, estimando-se que tenha sido responsável pela morte de cerca de 25 milhões de pessoas só na Europa, o que corresponde a cerca de um terço da população.
A doença era causada pela bactéria Yersina pestis e, ao que tudo indica, transmitida ao ser humano através das picadas de pulgas e piolhos, numa época em que as condições de higiene e sanitárias eram, evidentemente, muito precárias ou até inexistentes.
Em Portugal, a peste negra entrou em 1348, provavelmente por altura de S. Miguel, isto é, nos finais de Setembro. Durante os três meses seguintes, estima-se que esta epidemia terá sido responsável pela morte de cerca de um terço a metade da população portuguesa, fazendo com que o país mergulhasse, à semelhança de outros territórios europeus, numa grave crise demográfica e económica.
Os surtos da peste negra não se ficaram pelo século XIV e continuaram a assolar periodicamente, com maior ou menor intensidade, o país, assim como outras partes do globo, até ao século XIX, ainda que sem as repercussões dantescas do anterior período medieval.
Por associarmos esta epidemia à Época Medieval, parece-nos sempre uma realidade demasiado longínqua e até inimaginável nos dias de hoje. De facto, apesar de lidarmos agora com uma situação muito preocupante de pandemia, a peste negra medieval ocorreu num cenário que seria actualmente impensável, na medida em estamos hoje num patamar de evolução e desenvolvimento científico absolutamente notável, sem qualquer tipo de comparação possível com o período em que a Yersina pestis causou as suas maiores vítimas.
Nos dias que correm, perante a propagação da Covid-19, não nos faltam recomendações sobre as diversas formas de prevenir o contágio e informações detalhadas sobre a doença e sobre os sintomas mais comuns; não faltam, também, profissionais de saúde empenhados em tratar, no terreno, os doentes que entretanto vão aumentando de dia para dia, assim como não faltam equipas de cientistas que se esforçam ao máximo por investigar e conhecer o novo coronavírus, procurando afincadamente criar uma vacina e fármacos eficazes ao seu combate.
E, além disso, claro que não é expectável que esta pandemia com a qual lidamos agora conduza ao desaparecimento de um terço da população mundial, o que seria sem dúvida ainda mais catastrófico do que o cenário já de si bastante alarmante em que agora nos encontramos.
O desenvolvimento científico da contemporaneidade trouxe à medicina progressos absolutamente assinaláveis, com um aumento exponencial da esperança média de vida, vacinação e a erradicação de várias doenças outrora mortíferas. Por isso mesmo, estamos hoje, felizmente, muito melhor preparados para lidar com as novas doenças…
Mas estamos, no reverso da medalha, muito menos preparados do que os nossos antepassados para lidar com a morte… E, na verdade, apesar de sabermos, em teoria, que as epidemias são cíclicas, tal como a História nos ajuda a relembrar, não estamos também nada preparados para lidar com elas.
Tal como não o estavam os nossos avós e os nossos bisavós quando, nos finais de 1918, tiveram de enfrentar uma das mais mortíferas pandemias de que há registo na História: a gripe pneumónica, também conhecida como gripe espanhola, causada por uma estirpe do vírus Influenza A, subtipo H1N1, altamente contagioso e particularmente agressivo, causador de pneumonias e responsável por uma elevada mortalidade, sobretudo em jovens adultos saudáveis, e não tão elevada, como seria de esperar, nos grupos de risco como os idosos, os doentes crónicos e as crianças.
Durante os anos de 1918 e 1919, estima-se que a pneumónica tenha afectado cerca de 500 milhões de pessoas e que tenha causado a morte de entre 50 milhões a 100 milhões de pessoas em todo o mundo; somou mais vítimas do que a peste negra na Europa, mais do que a Primeira Grande Guerra (16 milhões) e provavelmente mais do que a posterior Segunda Grande Guerra (entre 50 a 85 milhões), tendo sido, portanto, responsável pelo desaparecimento de cerca de 5% de população mundial daquela época.
Não se sabe ao certo a origem desta doença, embora a maioria dos estudiosos defenda que terá aparecido num campo militar dos EUA, no estado do Kansas e se tenha propagado a partir daí, pelo Atlântico e pelo Pacífico, para os outros continentes.
A rápida propagação da doença em muito se terá propiciado pela movimentação e posterior desmobilização das tropas da Grande Guerra, que teria o seu término em Novembro de 1918. A pneumónica desenvolveu-se em três vagas: a primeira entre Março e Abril de 1918; a segunda vaga irrompeu em Agosto até finais desse ano e foi a mais virulenta e mortífera; a terceira vaga ocorreu nos inícios do ano seguinte.
Neste cenário, Portugal não foi excepção. Estima-se que esta gripe foi responsável pela morte de 2% da população portuguesa (cerca de 135.000 pessoas), deixando a descoberto as fragilidades da rede de assistência médica no país durante o instável governo de Sidónio Pais, numa época em que Portugal sofria os efeitos adversos de participação na Grande Guerra e enfrentava uma grave crise económica, política e social.
A segunda e mais intensa vaga da pneumónica começou na região do Porto, em Gaia, em meados de Agosto e daí foi irradiando para o resto do país. Chegaria ao Algarve em inícios de Outubro de 1918. E, tal qual o novo coronavírus, foi também um vírus muito democrático, que contagiou e afectou pessoas de todos os grupos sociais.
Por cá, não lhe resistiria o advogado e poeta olhanense João Lúcio, que aos 38 anos deixou para sempre o seu “Algarve impressionista e mole”.
Os dois concelhos inicialmente mais afectados na região algarvia foram Loulé e São Brás de Alportel, onde a intensidade e fatalidade da pandemia teriam causado desde logo algum pânico entre a população, noticiado pela imprensa regional.
Daí, alastrou-se aos concelhos limítrofes de Tavira, Olhão e Faro na segunda quinzena de Outubro e antes do final desse mês também foram afectados os concelhos do barlavento, nomeadamente Portimão, Lagoa, Lagos e Monchique.
Os últimos concelhos afectados parecem ter sido Albufeira, Aljezur e Alcoutim, onde a taxa de mortalidade foi mais elevada em Novembro; porém, nenhum concelho algarvio, fosse ele do sotavento ou do barlavento, escapou ao surto pandémico, que teve consequência muito nefastas para a população.
Num telegrama dirigido pelo então Governador Civil de Faro ao Presidente da República, solicitava-se a protecção do Algarve perante um cenário absolutamente calamitoso, afirmando que a “epidemia varre povoações inteiras havendo já cemitérios completamente cheios, fazendo-se enterramentos em campa rasa.
Faltam medicamentos, arroz, açúcar, velas, petróleo, massas, manteigas, batatas, e há três dias que não há pão”. Este cenário não era exclusivo da região algarvia e o governo central viu-se então obrigado a tomar medidas de combate à pandemia… porém, não tão drásticas como efectivamente deveriam ter sido, de forma a conter a doença. O então Director Geral da Saúde, Ricardo Jorge, acreditava que sendo a gripe causada por um vírus, só uma vacina poderia resolver o problema, pelo que considerava que as medidas tradicionais como o isolamento seriam ineficazes.
Por isso mesmo, chegou mesmo a defender que a vida social e as distracções deveriam prosseguir para não aumentar o isolamento e o pânico entre a população.
Não obstante, o elevado contágio acabou por levar ao encerramento de escolas e universidades, de serviços públicos, e as feiras e romarias foram interditas.
Foram tomadas medidas, em articulação com as autoridades locais, que passaram por informar a população das adequadas medidas profiláticas no combate à gripe, por garantir a presença suficiente de médicos em todos os distritos para acudir aos casos de doença, e por providenciar um melhor atendimento nas farmácias, assim como a disponibilização de medicamentos. Além disso, o Estado Português incumbiu-se de ajudar financeiramente as delegações de saúde dos distritos para socorro das populações afectadas pela pandemia. Ainda assim, muito tardiamente.
A resposta do Estado não acompanhou a rapidez de propagação do surto gripal, revelando não só as dificuldades de comunicação do centro com a periferia, como também as frágeis estruturas de apoio e assistência na saúde em Portugal.
Os últimos três meses de 1918 corresponderam a um cenário de caos e pânico em todo o país, com desastrosas consequências não só demográficas, como também económicas e sociais, numa conjuntura já de si muito complicada.
Ajudaram a salientar as fragilidades de resposta do Estado e das diversas autoridades, fragilidades estas que, consumados os acontecimentos, são sempre tão fáceis de apontar, mas que, em última análise, são sobretudo resultado de decisões muito difíceis de tomar a quem cabe a responsabilidade de agir num período atípico de crise e de surto pandémico.
Não queria, porém, terminar esta reflexão salientando as fragilidades de então, que bem podem ser as de agora, mas sim terminá-la relembrando a forma como, perante uma situação tão difícil e trágica de perda de tantas vidas, se desencadearam no Algarve, como um pouco por todo o país, movimentos cívicos de solidariedade social e de entreajuda, que partiram de cidadãos anónimos, de associações, de comissões locais de apoio, do bispo e dos párocos, entre outros, que contribuíram como lhes foi possível com dinheiro, alimentos e outros géneros, ou ajudando as autoridades no tratamento e prevenção da doença, ou mesmo na transmissão de informação e no apoio e conforto dos mais necessitados.
Basta, para tal, relembrar os donativos da companhia de seguros “A Latina” aos concelhos de Silves, Portimão e Faro; ou a acção do industrial João António Júdice Fialho que, durante a epidemia, manteve um sistema organizado de serviços de apoio na doença aos seus funcionários e respectivas famílias; ou, ainda, o apoio da Associação da Senhoras da Caridade de Faro na angariação de fundos para as famílias mais afectadas – isto apenas para salientar alguns exemplos, de entre os muitos outros que então ocorreram.
Situações catastróficas e de grande dramatismo, que ameaçam a nossa vida e vida daqueles que nos são próximos, são também situações que tendem a fazer sobressair a nossa empatia e compaixão pelo drama do outro.
São momentos em que nos sentimos compelidos a ajudar o próximo. Podemos, neste momento, encontrar algum conforto na nossa História, ao relembrar que, em 1918, os nossos avós e bisavós estiveram sujeitos a circunstâncias muito adversas, quiçá bem mais penosas que as nossas, e que foram, ainda assim, capazes de as ultrapassar; lidaram de perto com a doença e com a perda de familiares e de amigos, e encontraram, ainda assim, ânimo e força para prestar assistência aos mais necessitados.
Podemos e devemos, neste momento tão difícil, envidar todos os esforços para fazermos a nossa parte no combate à Covid-19… mesmo que nos pareça que a nossa parte é pequena e mesmo que corresponda somente a ficar no recato do nosso lar, protegendo-nos não só a nós próprios, como também aos outros. Se todos fizermos a nossa parte, todas as partes, que podem até parecer pequenas, juntas se tornam grandes e se fazem fortes!
Neste momento temos de nos manter unidos em torno de um mesmo objectivo comum: ultrapassar, da melhor forma e com os menores danos possíveis, esta pandemia. E assim será!
Autora: Andreia Fidalgo é Bolseira de Doutoramento na Fundação para a Ciência e a Tecnologia e Assistente Convidada na Universidade do Algarve
Nota: Artigo publicado originalmente no blogue «Lugar ao Sul» e aqui republicado no âmbito da parceria com o Sul Informação

















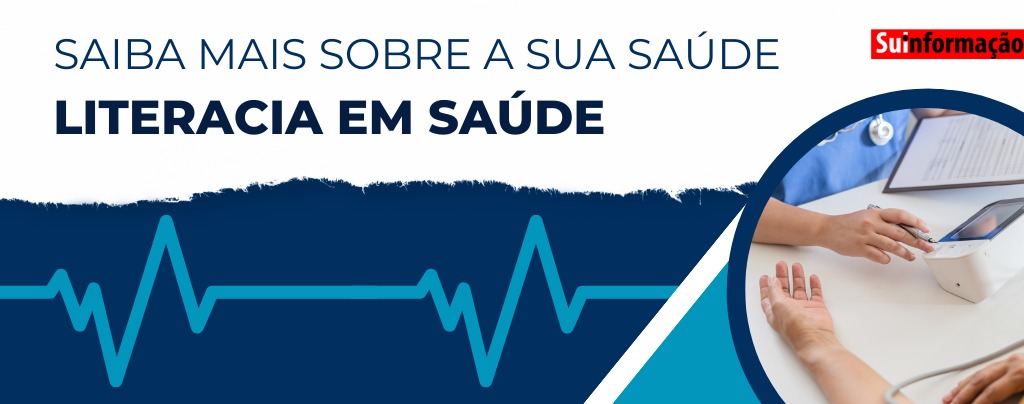




Comentários