Num futuro próximo, cada vez mais hiper-conectado, automatizado e virtualizado, onde ficam os direitos humanos e a arte das relações humanas, isto é, a humanidade? Porque é que investimos tanto em tecnologia, sistemas automáticos e inteligência artificial e tão pouco em relações humanas, inteligência emocional, sociabilidade e humanidade?
Há umas décadas, o futuro estava inscrito na “lógica das coisas”, era, digamos, previsível e programável. No último quarto de século, porém, chegamos quase sempre tarde ao futuro. O futuro deixou de estar inscrito na lógica das coisas, não tem mecanismo de programação, corre sempre à nossa frente, tornou-se instável e virtualmente líquido.
A vida tornou-se uma categoria líquida onde o processo se sobrepõe à forma, uma metáfora para o estado da nossa condição humana: tudo é volátil, efémero, precário, transitório, passageiro, instável, temporário, fluido, enfim, líquido. A passagem do conceito de ordem ou estrutura (sólido) para o conceito de rede ou conexão (líquida) dá bem conta dessa transição.
E estas noções líquidas e fluidas são de aplicação em todas as áreas, desde as relações amorosas e familiares até às relações de poder nos campos da economia, da sociedade, da política e, obviamente, da revolução digital.
O imaginário social da transformação tecnológica e digital é um excelente campo de observação no que diz respeito ao “tempo do futuro”. A cada tecnologia estão, quase sempre, associados uma promessa, uma curiosidade e um mistério, isto é, um imaginário social que está configurado como se fosse uma linguagem ou semântica que precisa de ser descodificada. Neste contexto, a transformação digital é erigida como se fosse um mito indiscutível ou, até, um imperativo categórico para definir as escolhas de sociedade.
O tempo do futuro inscreve-se, portanto, neste imaginário social da transformação tecnológica e digital e, sobretudo, na sua declarada ambivalência e duplicidade que o associam muitas vezes a diversas referências mitológicas.
Assim, onde está o utilitário está, também, o ficcional, onde está a liberdade está, também, a servidão voluntária, onde está uma grande promessa está, também, uma grande apreensão, onde está o individualismo está, também, uma grande dependência das redes sociais, onde está o paraíso tecnológico está, também, a violação da privacidade.
Ambivalência e duplicidade que nos colocam em guarda e prevenção face ao futuro. Ou seja, a crise do futuro, mas, também, a esperança do futuro.
Se revisitarmos os grandes mitos veremos, também, as múltiplas associações para criar um imaginário social mais conforme e conveniente, mas, também, mais constrangedor e, mesmo, mais intimidante. Geralmente, não vivemos histórias inéditas, mas sim velhas histórias com roupagens novas. Tomemos alguns exemplos.
Quando abrimos a Caixa de Pandora ou esfregamos a Lâmpada de Aladino, libertamos os males da humanidade e muitas vezes aprisionamos a esperança. Quando reportamos os mitos de Ícaro e Prometeu invocamos os valores da ambição, da superação e tenacidade, mas, também, a iminência do fracasso e do insucesso.
Quando referimos o mito de Gygés de “ver sem ser visto” associamo-lo às câmaras ocultas e aos drones, mas, também, à hiper vigilância. O mito de Golem está associado à criação de seres artificiais, mas, também, aos agentes inteligentes e avatares virtuais.
O mito de andrógeno está associado à liberdade de escolher uma identidade de género, mas, também, à manipulação biotecnológica.
Outros mitos estão associados aos grandes espaços, aos universos imensos do ciberespaço e da cibercultura como o mito de Babel. Finalmente, as duas faces de Janus, o mito das transições e dos eternos recomeços, transposto para os rostos inquietos da tecnologia e da humanidade.
O que significam estas referências mitológicas na configuração do nosso imaginário? Como não temos tempo nem recuo suficientes para uma busca de sentido e significado, encurtamos caminho e vamos procurar essas respostas na linguagem ficcional e nas suas inúmeras metáforas e imagens.
Linguagem simbólica que é, também, importa sublinhá-lo, uma grande simplificação ideológica e, na circunstância, uma enorme manipulação do imaginário social tal como é veiculada pelo simbolismo próprio de Silicon Valley onde pontificam os grandes conglomerados tecnológicos e capitalistas.
Em redor deste imaginário social, configuram-se discursos muito variados e as representações dos protagonistas mais diversos. Desde logo as representações daqueles, os cientistas, que concebem a inovação em centros de pesquisa fundamental. Depois o governo e a administração pública, com os seus programas de políticas públicas e financiamentos.
A seguir, os grandes operadores, a comunicação empresarial e os serviços de publicidade e marketing. Depois os meios de comunicação social e os grandes eventos, mas, também, o universo das artes, da moda e da ciência-ficção.
Por fim, os próprios utilizadores, em modo de servidão voluntária, vivendo uma espécie de embriaguez tecnológica e digital. Quer dizer, o imaginário social da cultura digital e o grande protagonismo dos conglomerados tecnológicos serviram para encobrir uma parte substancial das “dores” desta fase do capitalismo que alguns (Boutang, 2007) denominaram de capitalismo cognitivo.
Num outro registo do imaginário social da cultura tecnológica e digital faz, também, parte a “modernidade líquida” do filósofo Zygmunt Bauman). No “tempo líquido” em que vivemos a vida não é um projeto, mas, antes, uma série ou coleção de episódios. Tudo o que dávamos por adquirido está definitivamente posto em causa, a começar pela “herança comunitária”.
Agora, as relações na comunidade dão lugar às conexões na rede. Tudo é descartável. No livro de Bauman “A Cegueira Moral” de 2016 pode ler-se: “Uma insensibilidade moral induzida e manipulada torna-se uma compulsão, quase uma segunda natureza, e as dores morais vêm-se desprovidas do seu papel salutar de prevenir, alertar e mobilizar”.
É aqui que nos encontramos, hoje, numa encruzilhada entre a crise do futuro e a esperança do futuro. De um lado, o entretenimento barato das comunidades online, a bricolage permanente das relações e as crises de atenção e impaciência perante o oceano de informação em que estamos mergulhados, do outro lado, a vida quotidiana onde a sensibilidade, a empatia e a felicidade são muito mais importantes do que a pureza teórica e a embriaguês tecnológica.
Precisamos de tempo, muito tempo, para lidar e cuidar das impurezas e imperfeições das várias camadas da realidade.
Notas Finais
O grande mito da “convergência tecnológica” parece disposto a provar que o ser humano é pura transição, uma máquina neuronal gigantesca onde o processo prevalece sobre a forma: do ser natural ao ser melhorado, do ser biónico e ao ser pós-humano.
Neste contexto de convergência tecnológica, estaríamos disponíveis para alienar a nossa inteligência racional, em dispositivos exteriores, e a nossa inteligência emocional em redes sociais devidamente programadas e acondicionadas.
Mas num universo cada vez mais digital, qual é a ética prática que prevalece? A da inteligência artificial e da computação cognitiva ou a ética da humanidade, mesmo já aumentada e melhorada?
E os novos direitos humanos na era digital, quem traça os limites e onde? O direito a permanecer um humano não-aumentado, simplesmente, ou o direito a permanecer ineficiente e excluído, ou o direito a permanecer desligado fora do horário de trabalho, ou o direito de permanecer invisível face às câmaras de vigilância, ou o direito e o privilégio de trabalhar exclusivamente com humanos?
Na era digital do ciberespaço e da cibercultura, abrir a Caixa de Pandora ou esfregar a Lâmpada de Aladino pode ser uma operação de alto risco. Cuidado, pois, com a armadilha do narcisismo digital.
Não deixemos que a inteligência artificial tome conta da nossa inteligência racional, não deixemos que a arte emocional das relações humanas seja trocada pela caricatura de uma bricolage social, renovemos o princípio da precaução e a ética do cuidado, vivamos a vida ao quotidiano nas nossas comunidades offline e sempre que necessário acionemos o “direito de desligar”.
Ambivalência, duplicidade e representação, o futuro é a crise do futuro, mas é, sobretudo, a arte realista da esperança.
Autor: António Covas é professor catedrático da Universidade do Algarve e doutorado em Assuntos Europeus pela Universidade Livre de Bruxelas













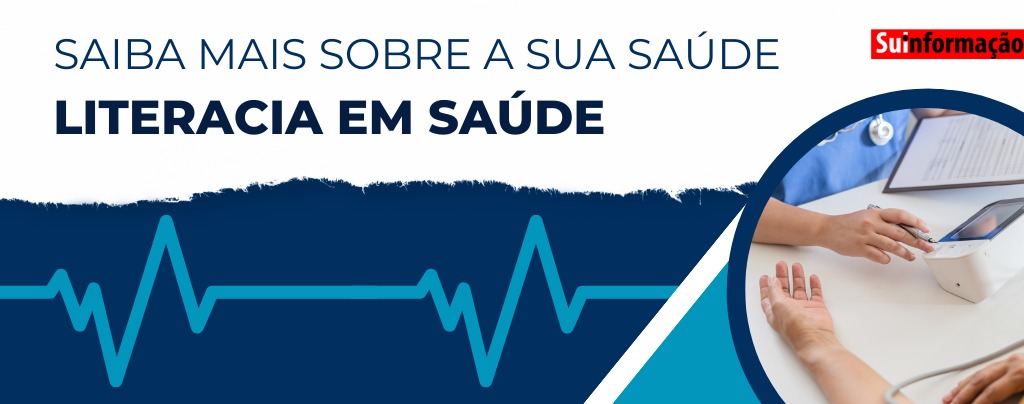




Comentários