“Durante a noite, veio o homem branco…”, diziam as legendas. Eram indígenas, apenas um casal de velhos de ar assustado, rodeado de câmaras, de luzes, de linguistas e antropólogos chamados em cima da hora. Encontrados a vaguear pela floresta, do que se julgava ser a sua aldeia na Amazónia restavam cinzas e imagens de madeireiros atarefados. Estava tudo no noticiário da TV e foi notícia de pouca monta, com direito a ser visível durante uns dois dias.
Digamos que se tratou de mais uma daquelas evidências sobre as muitas ilegalidades naturalizadas, cuja violência e desumanidade há muito se desfamiliarizaram, tudo digerido entre duas garfadas ao jantar.
Digamos que a TV nos entra assim pela casa e pela viagem, como se tudo se reduzisse a um modelo de representação aceitável e comummente reconhecido e digerido. Digamos que a presença desse “fazer” (desse acto de representar) se revela na objectividade fantasma com que, através dele, tomamos consciência do mundo, uma fantasmagoria que nos passa ao lado — a menos que, qual membro amputado, nos doa no olhar para o écrã.
Não houve antropólogos ou linguistas que soubessem exactamente o que diziam aqueles dois. Qual o modelo de representação que usavam? Não se sabia e, repare-se, a pergunta não apontava sequer o problema etnopoético da impossibilidade de traduzir uma mundivisão outra em modelo de representação de “homens brancos”. Era a raiz do modelo, a língua mesma, que se desconhecia.
Os especialistas passaram assim apenas “a deduzir” a partir das línguas daquela região, já conhecidas e já estudadas. Com aqueles dois seres se perdia toda uma língua e, com ela, toda a presença de uma história e de uma cultura, todo um saber — todas as formas de um “fazer” que deram forma àquela comunidade e que, certamente nos poderia iluminar o mundo de modo outro.
Em 2019, assinala-se, nas Nações Unidas, o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Digamos que isso deveria devolver-nos à grande questão social e política que é a poética — aquela arte que Aristóteles, vendo-a sem nome, chamou simplesmente “fazer” (poiein).
Digamos que o que hoje se passa com as Línguas Indígenas é o epítome da dor do membro amputado, dessa fantasmagoria que nos dói quando afinal percebemos que a representação do mundo não está na natureza, mas antes se revela como insuportável ausência dos sentidos que reconhecemos.
Nesse caminho, digamos que a poesia, também celebrada no dia 21 de Março, continuará a ser o território que resta à nossa humanidade — com ela e nela existe a infinita e permanente possibilidade de (re)fazer todas as representações do mundo e/ou de todos os sentidos outros — o não-dito, o inaudito e o interdito.
Aos poetas, esses legisladores do mundo não-reconhecidos, cabe-lhes guardar a voz de todos e de todas aquelas que não a têm — como aquele velho casal que, em toda a sua tragédia, viu cair sobre si essa enorme responsabilidade que é a de todos os bardos: ser os indivíduos representativos da comunidade, guardar a sua história, a sua experiência, o seu “fazer” do mundo.
Digamos assim que, neste ano e neste dia que ora celebramos, há que esperar o dia em que a poesia seja entendida como algo muito mais interessante do que a TV. E muito mais surpreendente.
Autora: Graça Capinha (Centro de Estudos Sociais)
Ciência na Imprensa Regional – Ciência Viva
Nota: Este texto não foi escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico














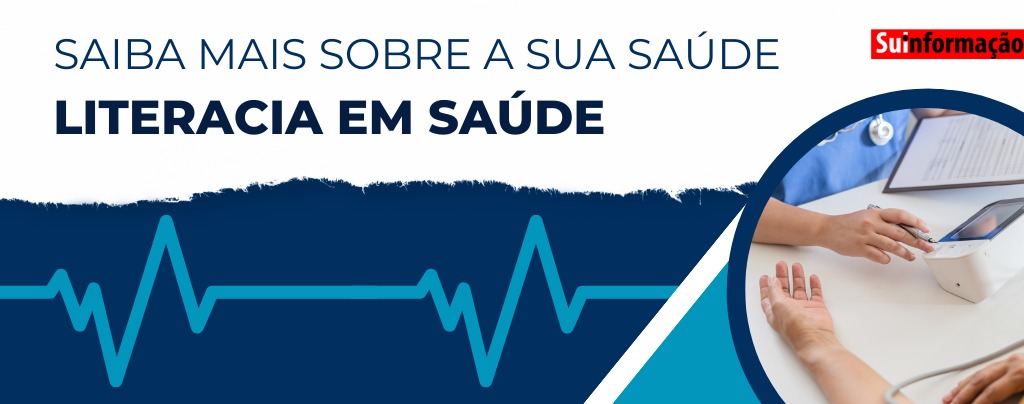




Comentários