O recente acontecimento em Borba, com o desabamento parcial do talude de uma unidade extractiva de inertes, explorada até à base de uma estrada municipal, que foi também arrastada, causando mortos e desaparecidos, expõe, mais uma dramática vez, e novamente no modelo de gestão da paisagem, o colapso do Estado na sua função primordial de salvaguardar a segurança dos cidadãos.
Sendo certo que é muita a comoção em torno deste caso, seria importante, e para lá da necessária solidariedade para com as vítimas, conseguirmos fazer uma análise fria do que aconteceu.
Note-se que também eu, enquanto cidadão, quero ver alguém responsabilizado, penalizado, preso se for caso disso. Podia ser eu naquela estrada, ou quem lê estas linhas, ou o autocarro de transporte escolar que por lá passava costumeiramente.
Mas não por um qualquer sentimento de acerto de contas, não por vingança de terceiros e, infelizmente, já não tanto pelos que morreram, a quem já nada nem ninguém pode valer – excepto talvez honrando a sua memória. A punição deve surgir por um sentido mais amplo de efectiva justiça, pelo dever de fazer destes um exemplo para que outros não cometam, com igual ligeireza, os mesmos actos negligentes. Devemo-lo. A todos os que até hoje foram vítimas de incúria, mas também a todos os outros, que diariamente encarnamos o papel de potenciais futuras vítimas, colocados que somos em risco por decisões alienadas, irresponsáveis, calculistas, gananciosas ou corruptas, em variadíssimos casos e contextos, espalhados pelo País.
Porque tem que haver consequência. De outra forma, a ligeireza com que se brinca com coisas sérias continuará eternamente a ser a pauta que rege a nossa gestão territorial.
O que parece ser o mais provável.
Às consciências não parece valer a pena apelar. Mesmo quando tudo, clara e factualmente, falha. E morre gente.
O proprietário tem a épica – e tétrica – desfaçatez de se afirmar de consciência tranquila, as entidades entretêm-se num macabro jogo do empurra com os cadáveres (ninguém viu, ninguém sabia, ninguém tinha a competência), o Primeiro-ministro sorri quando instado a comentar, o Presidente da República responde com o habitual e comatoso pedido de paciência e adiamento do apuramento de responsabilidades, entre um registo mediático e outro.
De Entre-os-Rios a Pedrógão, passando por Monchique ou Albufeira, muitos foram os locais e muitas as ocasiões de repetição deste filme abjecto. Colectivamente, tardamos em inscrever a percepção da gritante vulnerabilidade a que somos abandonados. Talvez nunca o façamos, dado o número de oportunidades perdidas.
Portanto, desenganem-se os mais inocentes: se as anteriores foram o que foram, a de Borba é uma tragédia insignificante.
Estaline afirmava que a morte de uma pessoa é uma tragédia, enquanto a morte de milhares é estatística. Na sua sabedoria homicida, Estaline referia-se, com razão, à apropriação emocional por parte do público. Uma só pessoa tem nome, rosto, família, uma história com a qual podemos estabelecer paralelos. Uma multidão é amorfa, indistinta, distante, anónima.
Mas, ao nível dos estratos decisórios, é precisamente o inverso.
São os números que ditam o peso. É assim nos votos que decidem se um local com poucos eleitores é alvo de investimento ou deixado ao abandono, é assim no momento de decidir entre prevenir riscos potencialmente mortais ou deixar andar uma indústria até que o seu promotor retire todos os proveitos que entende que tem que retirar, deixando depois os encargos para o público.
Para que fique claro: as indústrias extractivas são actividades económicas fundamentais, quer pelo fornecimento de matérias-primas, quer pela geração de emprego e riqueza. Não são portanto alvos a abater, ou demónios a exorcizar.
O Algarve é uma região tradicionalmente associada à indústria extractiva de inertes. De acordo com dados da Direcção Geral de Energia e Geologia, em 2017 existiam no Algarve 70 unidades – nem todas em actividade – sendo as mais significativas as associadas à exploração de rocha calcária (ornamental e para cimento) e de sienito. Em termos de receitas, o sector gerava cerca de 8 milhões de euros anuais e à volta de três centenas de postos de trabalho directos.
No que diz respeito aos Planos Ambientais e de Recuperação Paisagística (PARP), o cenário no papel nem era dos piores. Das 50 unidades legais, 37 possuíam PARP aprovado (74%, contra a média nacional de 51%). No entanto, apenas 23 unidades já tinham constituído, total
ou parcialmente, caução (46%). Se há capacidade de fiscalização e força para fazer cumprir, já é outra história…
Havia ainda a somar a existência de 20 unidades (cerca de 30% do total) sem licença, o que é grave. Ou seja, que operam, ou operaram, à margem da lei, e relativamente às quais não existe qualquer mecanismo de reposição. Dinheiro em caixa limpinho, na óptica de quem as
explorou, um ónus colectivo, na óptica da sociedade. Porque, tal como qualquer outra actividade, tem impactes ambientais, implica o consumo de capital natural, de recursos e gera encargos, não apenas durante, mas também após a exploração.
E é aí que reside o problema. Os recursos minerais não estão sujeitos a propriedade privada.
São um valor colectivo do Estado, o que equivale a dizer que são de todos nós, sujeito a uma utilização parcimoniosa e rigorosa, até mesmo numa perspectiva intergeracional, uma vez que não são renováveis. A quem tenha vontade e capacidade, é autorizada a exploração, supostamente num quadro de ponderação entre os interesses particulares e o interesse público. A tarefa – difícil e delicada, reconhece-se – entregue à Administração Pública é a de mediação. Não de omissão e muito menos de demissão.
A actividade extractiva não pode então, em circunstância alguma, representar para a sociedade, actual ou vindoura, um custo ambiental ou paisagístico desequilibrado em relação às mais-valias que gera. Muito menos pode custar vidas humanas por negligência ou incúria.
Para tal, já bastam os acidentes.
Aqui, e apelando directamente às caixas-registadoras humanas que regem o pensamento contemporâneo, há um défice irreconciliável.
Esse défice manifesta-se no presente e agrava-se no futuro.
Não apenas nas tragédias (reais e potenciais, porque muitas há à espreita), mas também na destruição da paisagem, na exaustão e fragmentação dos recursos, no legado que é deixado às próximas gerações.
Seja no sítio da Palmeira, perto das Caldas de Monchique (de onde surgem insistentes e alarmantes relatos de uma espécie de salve-se quem puder, onde não há quem imponha regras), seja na zona de Santo Estêvão, entre Estiramantens e Poço do Vale, no Concelho de Tavira (aqui parece mesmo imperar a lei do mais forte, com ameaças à integridade física e tudo), seja no Escarpão, seja na zona de Bordeira ou de São Brás de Alportel.
Os exemplos são variados, e estão à vista.
De quem queira ver, claro está.
Autor: Gonçalo Gomes é arquiteto paisagista, presidente da Secção Regional do Algarve da Associação Portuguesa dos Arquitetos Paisagistas (APAP), vice presidente da Direção Nacional da Liga para a Proteção da Natureza (LPN).
(e escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico)














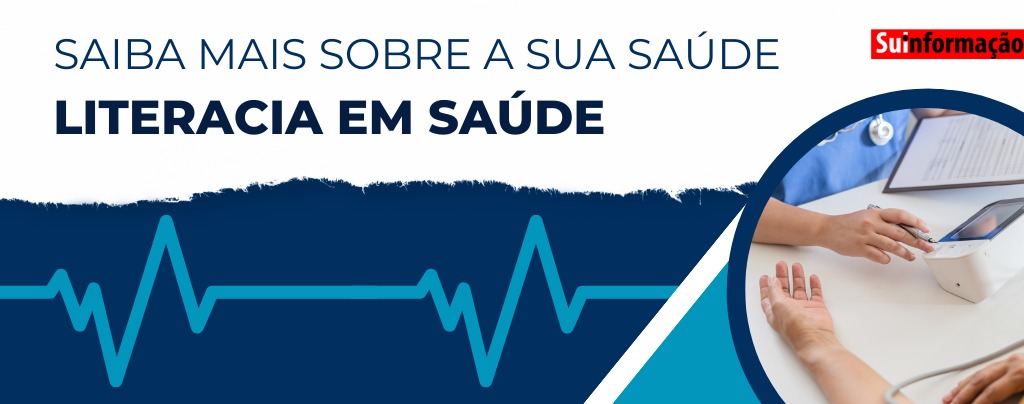




Comentários