 No dia 25 de Abril de 1974, tinha eu 11 anos acabados de fazer há menos de um mês. Andava naquilo que se chamava então o 1º ano do Ciclo Preparatório, na Escola Preparatória D. Sancho I, que ficava a dois passos da minha casa, em Lagoa. E era chefe de turma, um termo que mais tarde, logo após a Revolução dos Cravos, haveria de mudar para um mais democrático “delegada de turma”. Essa coisa dos chefes, nos tempos revolucionários, soava mal!
No dia 25 de Abril de 1974, tinha eu 11 anos acabados de fazer há menos de um mês. Andava naquilo que se chamava então o 1º ano do Ciclo Preparatório, na Escola Preparatória D. Sancho I, que ficava a dois passos da minha casa, em Lagoa. E era chefe de turma, um termo que mais tarde, logo após a Revolução dos Cravos, haveria de mudar para um mais democrático “delegada de turma”. Essa coisa dos chefes, nos tempos revolucionários, soava mal!
Eu era, como se vê, uma miúda. Não me lembro já do que se passou exatamente, mas tenho a ideia de que, apesar de toda a gente ter ido para as aulas, acabámos por ser mandados de volta para casa. De manhã, tinha a revolução acabado de nascer, ainda não se sabia muito bem o que estava a acontecer, nem qual o resultado.
O meu pai era empresário da construção civil (industrial, como então se dizia), dono de uma das maiores empresas de construção do Algarve e seguramente a maior do concelho de Lagoa. Como se haveria de ver nos meses seguintes a esse Abril de 74, tudo coisas que lhe haviam de valer alguns dissabores…mas isso foi mais tarde e é outra história.
O meu pai nasceu pobre e começou a trabalhar em criança (aos 9 anos, contava ele), para pagar os estudos que haveria de fazer. Construiu a sua vida e as empresas a pulso, com muito trabalho e sacrifício. Conhecia, por isso, os lados mais obscuros desse Portugal de brandos costumes salazarento. Ainda antes do 25 de Abril, haveria de ser uma vez chamado à PIDE, em Portimão, por causa de uns comentários que fez, num jantar de amigos, pouco abonatórios em relação a Salazar, quando este morreu. Que belos “amigos” esses, que o denunciaram…
Em casa, sempre tinha havido, desde que me lembro, na parte de trás de uma prateleira na estante da sala de estar, uma fila de livros que eram mantidos longe dos olhares das visitas. Lá estavam – descobri depois o seu significado – livros como «Portugal e o Futuro», de Spínola, «Portugal Amordaçado», de Mário Soares, os primeiros volumes de «A Funda», de Artur Portela Filho, e até livros como «O Crime do Padre Amaro», de Eça de Queirós, ou um volume do Henri Miller, já não me lembro qual (de todos estes, imaginem quais os que me despertaram a atenção?…).
O meu irmão tinha então 16 anos e aproximava-se a passos largos o dia em que, não se resolvendo a Guerra Colonial que se arrastava há anos sem fim, também ele teria de optar entre fugir do país para escapar à tropa ou sujeitar-se a ir morrer em África…ou voltar de lá estropiado, como acontecia a tantos jovens. Já uma vez, aí pelos meus 10 anos, ouvira os meus pais a falar, preocupados, sobre essa questão.
Talvez por tudo isso, para o meu pai a manhã do 25 de Abril foi de grande alegria, vivida com esperança. A minha mãe, muito religiosa e conservadora, não acompanhou a sua alegria.
E quando o meu pai, aí pela hora do almoço, chegou a casa eufórico com as notícias desse levantamento militar que derrubara o regime, sem violência, a minha mãe olhou para ele e disse-lhe: «Ris-te agora mas ainda um dia hás-de chorar…»
Eu, do alto dos meus 11 anos, achei aquela frase muito estranha e nunca me esqueci dela. O meu pai também não.
Lembro-me que, nas semanas seguintes, haveria de aderir à primeira greve da minha vida. Um colega mais velho, que tinha sido entretanto eleito representante de todos os alunos, foi à nossa sala e perguntou-nos se queríamos fazer greve. «Greve, o que é isso?», perguntei, então já investida das funções mais democráticas de delegada de turma. «Greve é não ter aulas!», respondeu o rapaz. «Então nós fazemos greve», respondi logo. Até hoje estou para saber qual a razão daquela greve…
E escusado será dizer que, quando voltei para casa porque não tinha aulas, nesse dia semanas depois do 25 de Abril de 1974, não me atrevi a dizer à minha mãe que eu tinha sido das primeiras a aderir a essa greve escolar. É que a revolução andava nas ruas, mas ainda não tinha entrado na minha casa…













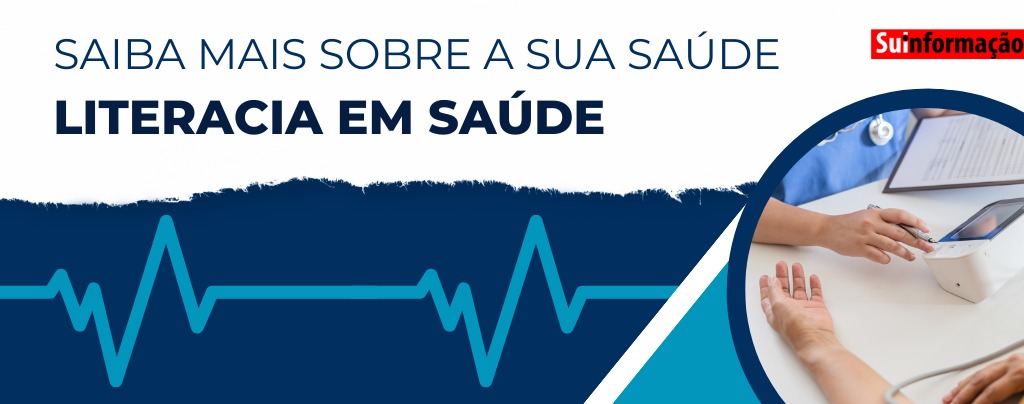




Comentários